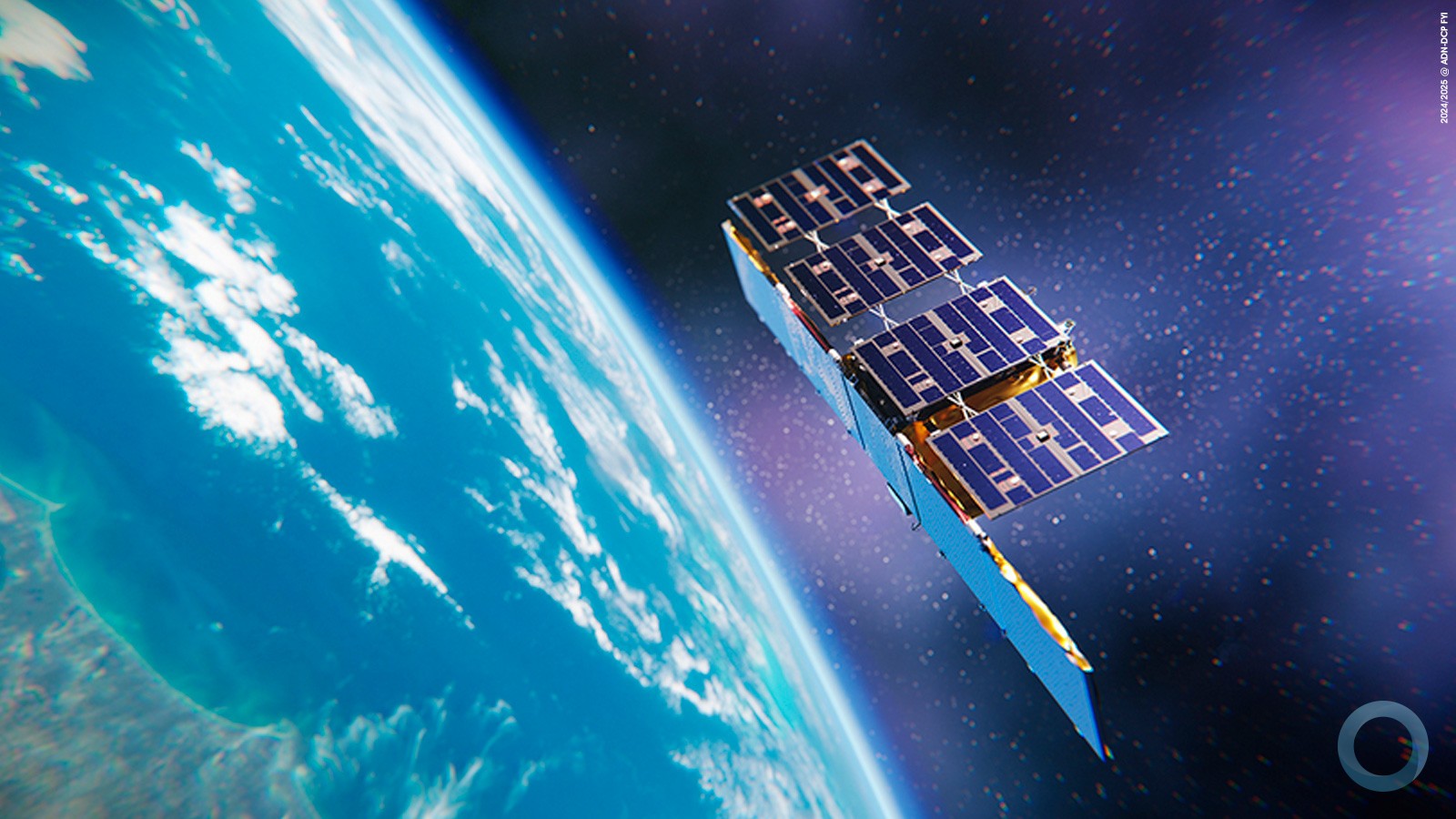Publicado jornal O Dia
Christina Nascimento
Há um ano e meio, o General Adriano Pereira Júnior, 64 anos, assumia a maior operação de risco da sua carreira: comandar uma tropa de 1,6 mil homens na área mais bem armada pelo tráfico do Rio. “A gente não sabia como iria funcionar direito”, confessa, sem cerimônia. Os motivos estavam atrelados a um histórico pesado: por anos, os complexos da Penha e do Alemão foram inacessíveis às forças policiais.
Os bastidores revelam que, em uma semana, o Exército rastreou um espaço praticamente desconhecido para a Segurança Pública: “Não tínhamos o mapa de onde eram as áreas problemas nem de quem ainda estava lá dentro…”. A atuação despertou a curiosidade dos exércitos dos EUA, Alemanha e Chile. No espaço conflagrado, a farda, em alguns momentos, virou uma espécie de divã: “Um pai me contou, chorando, que teve que entregar filha de 14 anos para traficante passar a noite”.
DIA: Tem alguma estratégia diferente que o senhor adotaria se ocupasse novamente o Complexo do Alemão?
GAL ADRIANO: Muito difícil te responder isso, porque o início da operação foi uma situação: nós chegamos e entramos. Muitas coisas foram alteradas à medida que foi evoluindo. Entramos com toda patrulha usando fuzil. Fomos gradativamente desescalando o armamento. Com o tempo, colocamos pistola e usamos arma não-letal, spray de pimenta e bala de borracha. Mas eu não mudaria isso, porque essas coisas tinham que ser feitas. Se eu voltasse para uma situação semelhante, não teria coragem de entrar em outra comunidade sem estar todo mundo com fuzil. E, ali (Complexo do Alemão), era o QG do mal. Estamos falando do pior local, onde os traficantes eram mais fortes.
A chegada da tropa, então, foi o momento mais tenso…
Tudo que acontecesse, o responsável seria eu. Não tinha outro. Fui eu que montei a operação, que orientei a tropa. Quando fomos para lá, foi o momento mais tenso, porque tinha muito armamento e muitos bandidos. E, aí, você começa uma operação colocando 1.600 homens (militares) armados, circulando naquela área de topografia difícil. Fazíamos patrulhamento em tudo. Ocorrer uma troca de tiro num beco era uma coisa que não tinha como se prever. O bandido aparece, atira e some. E se um soldado meu disparasse uma arma? E se o tiro entrasse num barraco e pegasse uma família, uma criança, uma pessoa que não tinha nada a ver com o tráfico? Eu tinha muitos questionamentos. Talvez, o momento mais tenso da minha vida tenha sido o primeiro mês de operação. Eu praticamente ia todos os dias lá. Tinha essa preocupação de que ocorresse algum problema.
Foi usada a mesma estratégia no Haiti. Era preciso fazer dessa forma?
Foi uma operação de alto risco pela quantidade de tropa que colocamos. E a gente não sabia como iria funcionar direito, como seria a reação do traficante à nossa presença. Poderia haver muitos incidentes, ou poucos ou nenhum. Mas ninguém sabia o que iria acontecer, porque a gente não tinha o mapa apontando onde eram as áreas problemáticas, ou indicando quem ainda estava lá dentro. Na Rocinha agora, há o Batalhão de Choque preparando e examinando o local para a instalação da Unidade de Polícia Pacificadora. Já nós, entramos lá (Complexo do Alemão), sem nada.
Então, o Exército fez um rastreamento da área que jamais tinha sido feito?
Eu acho que nunca tinha sido feito, porque as polícias Militar e Civil tinham sérias dificuldades para entrar. Aquilo era um fortaleza. Quem invadiu de fato (o Complexo do Alemão) foi a polícia. Até então, a gente ficava fazendo cerco. Nós só entramos no interior do complexo no dia 23 de dezembro de 2010. Então, até ali, acho que ninguém nunca tinha feito rastreamento, percorrido tantas áreas. A Inteligência foi levantando pouco a pouco quais eram as áreas de maior risco, as mais tranquilas.
Moradores reclamaram da violência. O que o senhor tem a dizer sobre isso?
Nós tivemos um problema no dia 6 de setembro de 2011. Uma jovem morreu com um tiro na nuca. Cadê a tia que foi para frente das câmeras dizer que a sobrinha morreu com um tiro dado pelo Exército? Quem não estava lá dentro acha que o Exército fez uma violência, que houve troca de tiros e matou. É mentira, engodo. A maioria dos problemas que tivemos foi ou proporcionado por pessoas ligadas ao tráfico, incomodadas com a nossa presença, ou por pessoas que têm que ir para lá fazer o protesto, porque o traficante quer. No dia 4, houve um protesto contra a presença do Exército. Na segunda-feira, dia 5, tinha faixas caprichadas, muito bem feitas, arrumadas, com plástico e tudo. Participaram da manifestação menos de 60 pessoas, numa comunidade de 280 mil moradores. Até que ponto esse protesto era de moradores?
Teve um outro problema, mais recente, de um jovem que diz que foi torturado. O inquérito provou que não foi. Nenhum militar colocou a mão nele. Começou pelo reconhecimento, que foi conduzido pela Polícia Civil. Os dois militares que ele reconheceu (como agressores) estavam no Rio Grande do Sul de folga quando aconteceu o episódio.
Mas o jovem tinha marcas pelo corpo…
Sim. Ele estava com algema de metal, mas não tínhamos este tipo lá dentro. Se toda vez que acontecer alguma coisa, uma pessoa qualquer denunciar, sem ter averiguação, e eu publicar (na imprensa), eu estou desprestigiando o outro lado.
Não frustrava saber que o tráfico permanecia lá dentro ?
Mas em que lugar se conseguiu acabar com o tráfico? Nos países que têm as melhores policias existem traficantes. Lá, tinha e com muito consumidor interno. Não tinha mais o tráfico do camarada que vai do asfalto pegar, porque ele tinha receio de ser pego. Mas ali dentro, as boquinhas de fumo funcionavam, vendendo droga…Mostramos um vídeo para a imprensa.
Houve críticas da Cúpula de Segurança Pública por causa da liberação do vídeo?
Pelo contrário, recebi muito incentivo da população de lá, como das pessoas com quais eu me relaciono. Nosso trabalho foi motivo de interesse do Exército dos EUA, da Alemanha e do Chile. Os americanos vieram aqui, porque é uma operação considerada por eles muito difícil. Eu estava fazendo lá o que eles não conseguiam fazer no Iraque, que é você estar no meio de uma população, que você sabe que a maioria quer a paz, mas no meio deles, sem usar farda, tem alguém que quer te pegar.
A Alemanha faz parte da Otan. Então, ela participa de forças de paz, que atuam assim. Num conflito como do Iraque, eles vão ter que empregar a tropa fazendo isso. Era uma coisa nova e chamou atenção por isso. O Exército, nesta atuação, foi alvo de referências elogiosas no mundo inteiro. Porque não foi fácil conviver lá dentro e convencer o soldado jovem que ele está com um fuzil, mas não pode atirar, mesmo se ele receber tiro. Só poderia atirar se tivesse um alvo.
Algum militar que mora em favela pediu para deixar a operação?
No início, ocorreram algumas declarações de pessoas dizendo que as famílias de militares que estavam lá foram ameaçadas. Investigamos e nada foi confirmado. Tanto que não tiramos ninguém por causa disso. Neste problema que houve com a PM (ataque à UPP), saiu na imprensa que dois policiais tinham sido atacados na Pedra do Sapo. Você não via nunca dois soldados nossos andando sozinhos. Era sempre uma sargento, um cabo e quatro soldados.
As mulheres não fizeram patrulhamento…
O Exército ainda não usa o segmento feminino na área de combate. Ainda não chegamos lá. Tem muita gente que quer. Eu acho que não deve.
Por quê?
Vou te dar um exemplo. Aquela policial que morreu deu uma repercussão. Se fosse um policial, daria menos. Na nossa cultura, a mulher ainda não é para isso, não é para ser morta assim. A violência contra a mulher atinge mais a sociedade, fere mais do que contra o homem.
E por falar na policial da PM, o ataque à UPP o surpreendeu?
Não, porque aconteceu este e podem acontecer outros. Como aconteceram conosco. O camarada entra lá, faz um ataque contra a tropa e sai. O que eles querem? Manter a população mandriada. Eu acho que eles querem voltar. Se vão tentar, não sei. Ali é uma área estratégica. (O Dia)