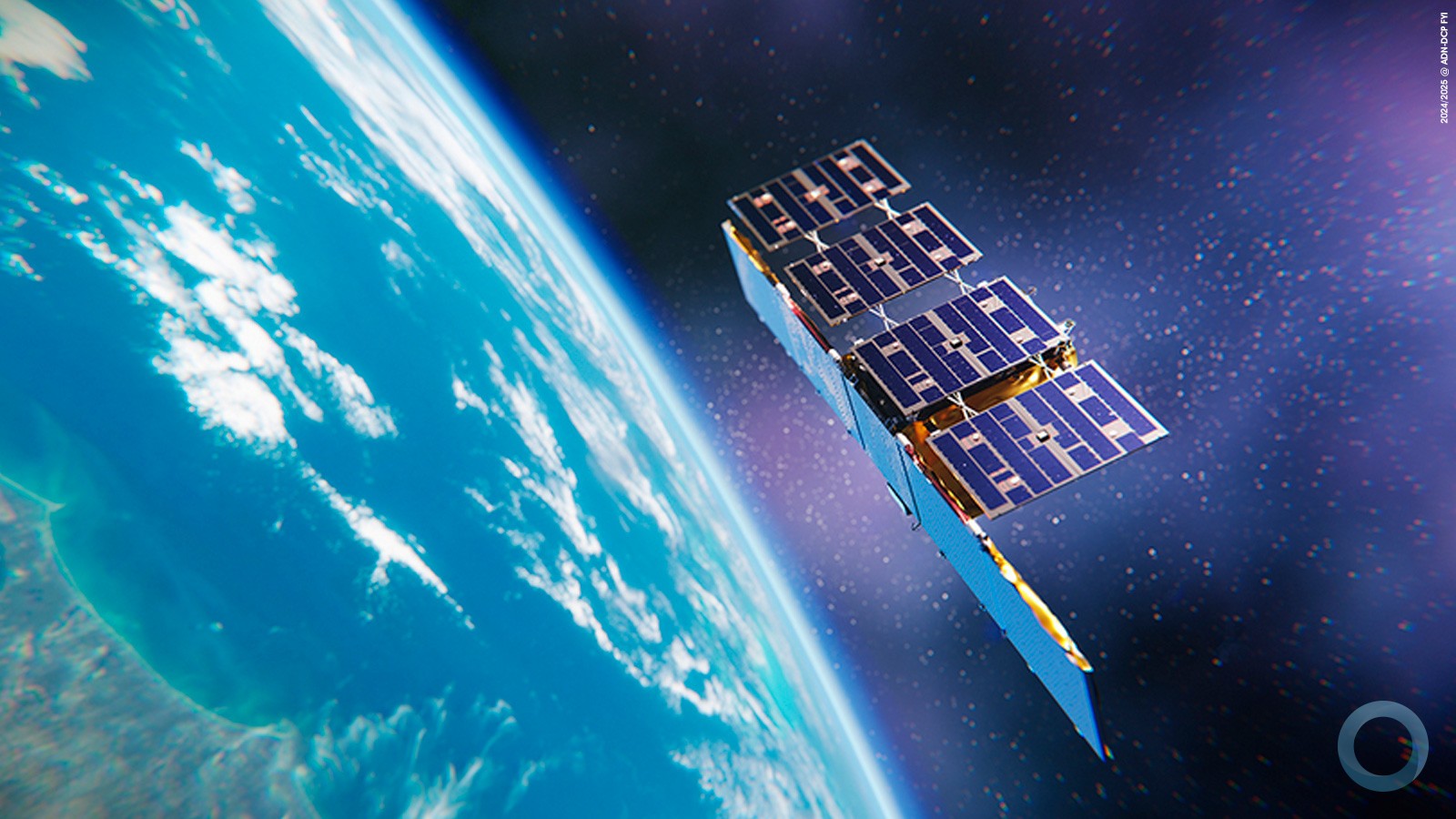Mônica Manir
Perto de se aposentar, Ennio Candotti achou que tinha 18 anos e foi para a Amazônia. Depois descobriu que não tinha isso exatamente. Mas aí já havia conhecido o fantástico mundo dos micro-organismos da floresta, que trabalham na surdina, e se deixou ficar. Hoje é coordenador do Museu da Amazônia, na mata aberta, que ocupa 100 hectares da Reserva Adolfo Ducke, área de terra firme em Manaus e há mais de 30 anos estudada por cientistas.
Sendo um deles, e dos mais atuantes – físico formado na USP, quatro vezes presidente da SBPC e o atual vice, professor da Universidade Federal do Espírito Santo, um dos criadores da revista Ciência Hoje e da argentina Ciencia Hoy e agraciado com o Prêmio Kalinga, concedido pela Unesco -, sente-se à vontade para falar dos percalços da ciência no País, abalada nessa semana por um incêndio na Estação Antártica Comandante Ferraz. O fogo derreteu 70% das instalações da base e deixou dois militares mortos e outro ferido. A hipótese é de pane elétrica no gerador, mas logo se levantou o pavio da falta de investimento nas pesquisas nacionais. O orçamento do programa brasileiro na Antártida previa destinação de R$ 18,3 milhões em 2011, e só R$ 9,2 milhões foram de fato executados. Lembrou-se ainda de acidentes anteriores, como aquele no Centro de Lançamento de Alcântara, em 2003, também um casamento com as Forças Armadas, e muita gente chorou a perda de pesquisas de uma vida toda, como no incêndio que dizimou grande parte do acervo do Instituto Butantan, em 2010.
Numa sala no último andar do Instituto Socioambiental, em São Paulo, onde apertava os nós de uma parceria para uma exposição sobre aparelhos de pesca, Candotti falou ao Aliás dos tais percalços da ciência no Brasil. "Muitas vezes se trabalha por soluços, uma época com recursos, uma época sem, e o fluxo contínuo custa a ser explicado às burocracias", diz. O físico também tratou da nossa escassez de patentes ("falta de horizonte da política industrial"), das intransigências do Ibama ("o pesquisador é visto como devastador") e da necessidade de importar cérebros ("100 mil não seria um número exagerado"). Não seria? No ligeiro sotaque que lhe sobrou das origens, o ítalo-brasileiro Ennio Candotti diz que não. Sicuramente no.
Há alguma coincidência entre a explosão em Alcântara em 2003, o incêndio no Instituto Butantan em 2010 e a destruição de grande parte da Comandante Ferraz? Os três seriam consequência da falta de investimentos nesses centros de pesquisa?
Eu não associaria diretamente esses acidentes à falta de recursos. Acompanhei o que ocorreu em Alcântara e as razões eram muito mais estruturais e relacionadas ao modo como se organizavam os cuidados com a segurança, por exemplo. A explosão poderia ter acontecido mesmo se houvesse muitos recursos à disposição. No caso da Antártida, havia também regras de segurança específicas, que podem não ter sido devidamente obedecidas, ou a manutenção dos equipamentos pode não ter sido feita.
Mas a base recebeu muitas críticas por sua estrutura em módulos próximos, em que os geradores dividiam quase o mesmo espaço com laboratórios, biblioteca, alojamentos. Não faltou investimento em modernização?
Fazer ciência entre nós é uma batalha diária. Não basta dizer: "Temos de fazer uma boa ciência na Antártida" para que isso aconteça. É uma conquista passo a passo, ainda mais dentro das Forças Armadas. Se o Ministério da Ciência e Tecnologia já é burocrático, as Forças Armadas são ao quadrado. O ministro por vezes consegue, com um grito, ultrapassar as resistências. Nas Forças Armadas, nenhum grito ultrapassa as continências. Além disso, um militar, entre investir em ciência e investir em mais corvetas, ele investe em mais corvetas. Entre a base da Antártida e comprar dois novos navios de proteção das fronteiras, compra os dois navios. A atividade de pesquisa é uma atividade nobre, mas não é considerada essencial.
A próxima base brasileira na Antártida será desenhada por civis, e não mais construída como se fosse uma instalação militar.
É isso mesmo. Se os militares querem a colaboração com os cientistas, essa colaboração não é apenas como usuários da infraestrutura. Precisamos desenhar essa infraestrutura juntos, precisamos desenhar os veículos espaciais juntos, precisamos pensar de comum acordo os projetos. Isso vale para os navios oceanográficos também. De vez em quando acontecem esses lamentáveis incidentes e todo mundo acorda. Agora, a atividade científica é perigosa e suscetível a isso. É perigosa com muitos recursos, imagine com recursos escassos.
Lamentou-se a perda de dados na Antártida, que alguns afirmaram ser irrecuperável. Foi a mesma observação feita por pesquisadores do Butantan na época do incêndio. Como dimensionar o prejuízo à pesquisa?
As coletas de material, as amostras, cada peça de uma pesquisa científica tem história. Se você queima a biblioteca que explica essa história, os dados são em grande parte perdidos. Mas há muito material que foi coletado e publicado. A base é um laboratório avançado. Precisaria saber direito o que ainda não tinha sido analisado e transformado em material compartilhado. Pode ser a coleta do último ano, dos últimos seis meses… Não é um museu de história natural como o Butantan, onde havia materiais que provavelmente estavam sendo conservados há muitos anos. O Butantan é um acervo importante de memória.
Na época do incêndio, o ex-presidente da Fundação Butantan, Isaias Raw, minimizou a importância do acervo dizendo que "aquilo era bobagem medieval".
Prefiro não comentar os não comentários do Isaias. Ele é uma figura tão pitoresca quanto emblemática na nossa ciência. É uma das pessoas que podem dizer qualquer coisa que a gente nem o leva tão a sério, nem o despreza.
O setor privado investe muito pouco em pesquisa no Brasil, ao contrário do que ocorre em países desenvolvidos, como os EUA. Setores hipercapitalizados, como o da geração de açúcar e álcool, deveriam continuar recebendo investimentos prioritários do setor público? Não seria mais estratégico aplicar recursos públicos em novas descobertas, como explorar a diversidade da Amazônia?
Não sei qual é a participação privada nos institutos que trabalham, por exemplo, com a produção de álcool de segunda geração, na qual se aproveita o bagaço. Sei que é alto o investimento público aí. Acho que o sistema deveria crescer e ter uma coisa e outra. Investimentos privados vão aumentar à medida que se tiver sucesso na implantação de laboratórios básicos para a etapa aplicada. Mesmo os públicos ainda são relativamente modestos perante o volume de interesse em jogo. São dezenas de bilhões e nós estamos discutindo algumas centenas. O risco é acreditar que investindo na busca de resultados industriais se consiga aumento imediato desses resultados. Às vezes isso exige estudos básicos, diversificação de pesquisas, laboratórios que aparentemente não têm grande significado.
Pouquíssimos resultados de nossas pesquisas são convertidos em patentes. Como isso pode ser revertido?
Veja, ainda temos um perfil de exportador de matérias-primas. A China nos manda produtos elaborados e nós mandamos matérias-primas. Ela vem fazendo isso nos últimos cinco, oito anos. Há dez anos, portanto, a China não era exportadora de matérias elaboradas. Ou seja, em uma década, o perfil da economia de um país pode mudar, mas isso exige planejamento, esforço concentrado. Temos uma pauta de exportações em que o valor agregado é ainda muito modesto. O fato de termos poucas patentes reflete isso. Discutíamos isso 30, 20 anos atrás, no início da industrialização da Coreia, e ainda não produzimos um carro nacional. A Índia está fabricando um carro de US$ 2 mil, a China vende automóveis muito baratos. Não saberíamos fazer coisa semelhante? Saberíamos, sim. Talvez o fato de exportarmos grãos e minérios nos dê uma situação cômoda de poder gerar riqueza sem investir muito em inteligência.
Acentua essa situação cômoda o fato de a população continuar comprando os carros ao preço que estão?
O grande desafio é atender essas faixas de população que estão ascendendo ao mercado de consumo. Isso deveria ser acompanhado de uma produção de tecnologias sociais. Não no sentido de tecnologias pobres, mas de tecnologias voltadas às demandas desse novo interlocutor. Produzir um carro muito barato deveria estar no horizonte da nossa política industrial. Se nos dedicássemos, na tecnologia e na ciência, a esse novo mundo de consumo daríamos uma revigorada no sistema de tecnologias aplicadas e inovativas que, sem dúvida, traria uma vida nova. E, com uma vida nova, as patentes. Mas não vejo que essas questões possam ser resolvidas por apelos de "patenteiem mais". Queremos é mais quadros técnicos. Apesar dos 10 mil doutores, uma fração pequena deles participa do esforço produtivo. Não quero dizer que se deva formar menos doutores nas áreas não produtivas. Apenas que se deve formar mais doutores nas produtivas, aumentar por exemplo o número de médicos dedicados à malária, produzir gente preocupada com doenças negligenciadas.
Como o senhor vê a decisão do Conselho Nacional de Educação, nesta semana, de invalidar a redução de vagas em cursos de medicina considerados ruins pelo próprio MEC?
Os institutos universitários capazes de preparar com razoável qualidade os jovens ainda são poucos. Precisamos de bons médicos, e nas áreas mais complexas precisamos de mais médicos ainda. Na Amazônia é dificílimo encontrar jovens que exercitem a profissão, mesmo com a promessa de ganhar mais. Não é uma aventura, não é chegar numa cidadezinha sem comunicação, sem transporte, sem apoio nenhum e fazer milagres para salvar ou curar. Tem que se fazer um programa articulado. Estamos longe disso. A Amazônia não está na pauta das políticas nacionais de atendimento aos direitos da cidadania, especialmente nas suas populações do interior.
Quais são os desafios de fazer ciência lá?
Primeiro, a Amazônia é vista pelo resto do Brasil como um depósito de matérias-primas, um depósito de água que pode gerar energia, um grande sorvedouro de carbono ou um enorme depósito de biodiversidade. Mas o conhecimento da biodiversidade é objeto de políticas muito modestas, incipientes e descontínuas. Para você ter uma ideia, qual e o maior patrimônio da Amazônia? Sua microbiologia. São os micro-organismos que transitam pela floresta que fazem dessa floresta a maravilha que é. Pois existem apenas dois laboratórios de microbiologia em toda a Amazônia. O centro de microbiologia da Amazônia, que deveria ter se dedicado nos últimos dez anos ao desenvolvimento de pesquisas em biotecnologia e produtos naturais, ainda não resolveu o seu estatuto jurídico. Isso é um crime, mas típico de tudo o que acontece por ali. Estamos em uma colônia do próprio Brasil, de onde se extrai muito mais do que se coloca. Fazemos um esforço danado para formar as pessoas em biologia, ecologia. Os jovens ficam dois, três anos e vão embora. A burocracia é lenta, é tudo muito incipiente.
A SBPC está presente no Congresso para reivindicar mais atenção à ciência?
Temos uma pessoa específica, dedicada aos contatos com o Congresso. Mas obviamente a SBPC e a Academia de Ciências precisam dar um salto, precisam dar informações ao público. Eu fui diretor da Ciência Hoje por muito tempo, mas sinto na pele que falhamos em não explicar, no devido tempo, dez anos atrás, em palavras simples, o valor das florestas. Há incêndios na Amazônia de proporções semelhantes aos de Alcântara e da Antártida. Mas hoje perdemos para uma discussão que envolve duas cabeças de boi.
Qual o papel dos ambientalistas nessa explicação?
A maior parte dos movimentos ambientalistas vai no sentido de "não corte as árvores", conserve, preserve, mantenha, em vez de estude, entenda, mostre que isso vale mais do que a árvore derrubada. O que os movimentos ambientalistas pedem é mais polícia, não mais pesquisadores. Hoje, o pesquisador, do ponto de vista do Ibama, é uma ameaça ao meio ambiente. É semelhante ao devastador porque, ao catar algumas formigas, as perturba, estressa. Eu trocaria todas as polícias por mais pesquisadores, mostraria a quem tem a motosserra que é melhor ter um microscópio, enfim, educaria as pessoas para extrair dos micro-organismos produtos que têm um valor de mercado mil vezes mais elevado. Agora, para isso, é preciso conhecer a água, o clima. Há uma falta de dimensões e de bom senso nessa discussão, que interessa apenas aos que querem preservar a Amazônia como um grande depósito de matérias-primas.
Uma das propostas da SBPC é corrigir a assimetria na produção científica brasileira, ainda centrada nos Estados do Sul e Sudeste. Isso tem sido feito?
A SBPC não conseguiu isso. Levantamos a discussão, mas precisaríamos de uma política nacional. A questão amazônica é de interesse nacional, mas você acha que as lideranças políticas estão dispostas a deslocar o pagamento dos royalties pela água que gera energia elétrica para os locais onde acontece essa geração? A produção de Belo Monte dará lucro onde a energia será consumida. As hidroelétricas vão deixar uma contribuição local, mas é um favor! R$ 0,50 para um hospital, R$ 200 reais para ambulâncias, R$ 400 para construir um chafariz, um campo de futebol.
Quando da viagem do tenente-coronel Marcos Cesar Pontes à Estação Espacial Internacional, em 2006, o senhor afirmou que era "carona paga", referindo-se ao fato de que a empreitada não gerou demandas à tecnologia nacional. Que outras "caronas pagas" o senhor identifica no cenário científico brasileiro?
Não tenho dúvida de que minha observação foi correta. Aqueles R$ 30 milhões que foram pagos fizeram falta ao programa especial. Acho que, nesse sentido, voltando à questão da Amazônia, precisamos de um número muito grande de pesquisadores se quisermos maior conhecimento em tempo hábil para fortalecer nossa capacidade de presença na região. Poderíamos explorar a crise internacional, que tem tornado as condições de pesquisa bastante difíceis na Europa e mesmo nos EUA. E importar gente, em grande número. No mercado nacional, não teremos condições de formar em menos de dez anos o tanto de pesquisadores que precisamos para a Amazônia.
E a volta dos brasileiros que foram estudar e trabalhar fora?
Eles são poucos. Precisamos de 10 mil, 20 mil. Se eu dissesse 100 mil, não seria um número exagerado. Trabalhariam em climas, águas, florestas, microbiologia, biotecnologia. Seria uma grande importação de cérebros. Não é trivial. Precisa de infraestrutura, os investimentos são escassos. Há quem ache que é preciso investir mais ciência na indústria. Eu acho que o BNDES pode cuidar disso. Deveríamos atentar para a infraestrutura para que mais competências se dediquem aos desafios nacionais.
Literalmente, o senhor sugere dar uma "carona paga" para eles virem trabalhar aqui.
Sim, sem dúvida. Eu traria do "espaço" as Forças de que precisamos. A USP foi feita com gente de fora e fez sucesso, não houve nenhuma perda de soberania nisso. Mas há perda de soberania quando 70% das pesquisas na Amazônia são feitas fora do país e com pessoas que muitas vezes não colocam os pés aqui. Trabalham com dados indiretos. Isso revela que há uma fragilidade muito grande no nosso sistema de ciência e tecnologia, e não só a respeito da Amazônia. Vale para oceanos e até para a Antártida. Não posso dizer que a importação de cérebros é uma ideia representativa da SBPC, mas há forte simpatia por isso. É uma provocação, e eu sei que tenho aliados.