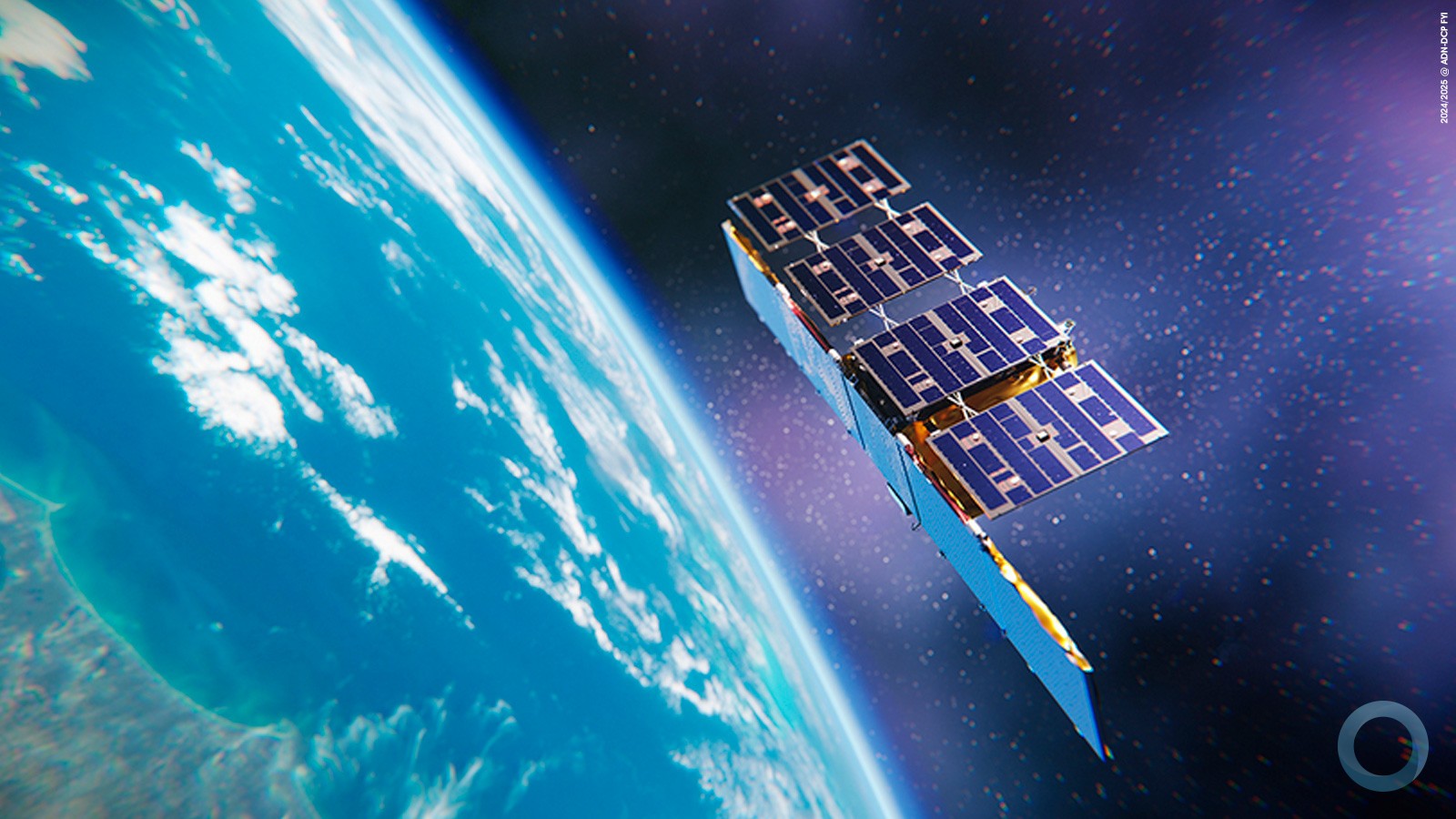Margaret MacMillian
Do "New York Times"
Autora do recém-lançado "The War that Ended Peace: The Road to 1914"
(A guerra que acabou com a paz: o caminho para 1914, em tradução livre)
Oxford England. A Primeira Guerra Mundial ainda nos assombra, em parte pela escala da carnificina – dez milhões de combatentes mortos e muitos mais feridos. Incontáveis civis também perderam suas vidas, seja por meio da ação militar, seja pela fome ou pela doença. Impérios inteiros foram destruídos e sociedades, brutalizadas.
Mas há uma outra razão: até hoje não chegamos a um consenso sobre por que ela aconteceu. Teria sido causada pelas ambições desmedidas de alguns dos homens no poder? O kaiser Wilhelm II e seus ministros, por exemplo, queriam uma Alemanha maior, com um alcance global, capaz de desafiar a supremacia naval britânica. Ou a explicação está nas ideologias conflitantes? Nas rivalidades nacionais? Ou no absoluto e, aparentemente, irreversível, Momentum do militarismo? Ou será que o conflito jamais teria acontecido se um evento aleatório em paragens austro-hungaras não tivesse acendido o pavio? Essa é a mais desalentadora de todas as explicações: que a guerra foi simplesmente um erro estúpido que poderia ter sido evitado.
A busca por explicações começou praticamente junto com os primeiros tiros, no verão de 1914, e nunca parou. A proximidade do centenário do início da guerra (em junho deste ano) deve nos fazer refletir mais uma vez sobre a vulnerabilidade humana a erros, catástrofes repentinas e acidentes fatais. A História, numa frase atribuída a Mark Twain, nunca se repete, mas rima. Temos um bom motivo para voltar nosso olhar para trás, mesmo mirando adiante. Se não conseguimos determinar como um dos mais importantes conflitos aconteceu, como poderemos evitar uma catástrofe semelhante no futuro?
Embora o período que antecedeu a Primeira Guerra – com sua iluminação a gás e suas carruagens puxadas a cavalos – pareça muito distante, ele é similar ao nosso de muitas maneiras. A globalização – que tendemos a pensar como um fenômeno moderno, criado pela difusão dos negócios e investimentos internacionais, o crescimento da internet e a migração generalizada – também era uma característica daqueles tempos. Mesmo as mais remotas partes do mundo estavam sendo interligadas pelos novos meios de transporte – de estradas de ferro a modernos navios – e pela comunicação, incluindo aí o telefone, o telégrafo e as comunicações sem fio.
As décadas anteriores a 1914 foram, como agora, um período de dramáticas mudanças e conflitos. Novos campos para o comércio e as manufaturas estavam sendo criados, como a rápida expansão da indústria química e elétrica. Einstein desenvolvia a sua teoria geral da relatividade; novas ideias radicais, como a da psicanálise, encontravam seguidores; e as raízes de ideologias predatórias, como o fascismo e o comunismo soviético, ganhavam terreno.
A globalização torna possível a disseminação de ideologias radicais com muito mais rapidez e o agrupamento de fanáticos em busca de uma sociedade perfeita. No período anterior à Primeira Guerra, anarquistas e revolucionários socialistas por toda a Europa e América do Norte liam os mesmo trabalhos e tinham o mesmo objetivo: derrubar a ordem social vigente. Os jovens sérvios que assassinaram o arquiduque Franz Ferdinand, da Áustria, em Sarajevo, foram inspirados por Nietzsche e Bakunin, da mesma forma que seus pares russos e franceses.
De Calcutá a Buffalo, terroristas imitavam uns aos outros nos métodos de jogar bombas nas Bolsas de Valores, explodir linhas de trem e atirar nos que vissem como opressores, fossem eles a imperatriz Elisabeth, do Império Austro-Húngaro, ou o presidente dos EUA, William McKinley. Hoje, as mídias sociais oferecem novos pontos de encontro para fanáticos, permitindo que disseminem suas mensagens para audiências cada vez maiores.
Com a nossa "Guerra ao terror", corremos o mesmo risco de superestimar o poder de uma rede fraca, de poucos extremistas. Mais perigoso ainda podem ser nossos erros de interpretação sobre as mudanças na guerra. Há cem anos, a maior parte dos planejadores militares e dos governos civis entendeu a natureza do conflito que estava por começar de forma catastroficamente errada.
Os grandes avanços em ciência e tecnologia na Europa e a crescente abertura de fábricas durante o período de paz fizeram com que a entrada na guerra fosse muito mais custosa, em termos de baixas, do que se imaginava. Os rifles e armas atiravam com muito mais rapidez e eficácia, a artilharia tinha explosivos muito mais devastadores.
Um erro comparável em nosso tempo é presumir que, por causa de nossa tecnologia avançada, somos capazes de ações militares rápidas, focadas e de grande poder destrutivo – golpes cirúrgicos, com drones e mísseis – resultando em conflitos que seriam curtos e de impacto limitado, e em vitórias decisivas. Cada vez mais, vemos guerras assimétricas, entre forças bem armadas e organizadas de um lado, e insurgentes de outro, que podem se espalhar não apenas por toda uma região, mas por um continente inteiro e até pelo planeta. Ainda assim, não conseguimos ver soluções claras, em parte porque não há só um inimigo, mas coalizões de senhores da guerra de ações militares rápidas, focadas e de grande poder destrutivo – golpes cirúrgicos, com drones e mísseis – resultando em conflitos que seriam curtos e de impacto limitado, e em vitórias decisivas. Cada vez mais, vemos guerras assimétricas, entre forças bem armadas e organizadas de um lado, e insurgentes de outro, que podem se espalhar não apenas por toda uma região, mas por um continente inteiro e até pelo planeta. Ainda assim, não conseguimos ver soluções claras, em parte porque não há só um inimigo, mas coalizões de senhores da guerra locais, guerreiros religiosos e outras partes interessadas.
Pense no Afeganistão ou na Síria, onde agentes locais e internacionais estão misturados, e onde definir exatamente o que constitui uma vitória é algo difícil. Nessas guerras, aqueles que ordenam ações militares devem considerar não apenas os combatentes em solo, mas também a esquiva, mas fundamental, opinião pública. Graças às mídias sociais, cada ataque aéreo, bomba e nuvem de gás venenoso que atinge uma população civil é filmado e tweetado por todo o mundo.
A globalização pode ampliar rivalidades e medos entre países que, de outra forma, poderiam ser amigos. Pouco antes da Primeira Gurra, o Reino Unido, a maior potência naval, e a Alemanha, a maior potência terrestre, eram grandes parceiros comerciais. Mas isso não se traduziu em amizade.
Com a Alemanha dividindo tradicionais mercados britânicos e competindo por colônias, o Reino Unido se sentiu ameaçado. Em 1896, um famoso panfleto britânico, "Feito na Alemanha", já pintava um quadro nefasto: "Um gigante estado comercial está surgindo para ameaçar a nossa prosperidade e disputar conosco o comércio mundial." Quando o Kaiser Wilhelm e seu ministro da Marinha, almirante Alfred von Tripitz, lançaram um submarino militar para desafiar a supremacia naval britânica, o desconforto no Reino Unido se transformou em algo muito próximo do pânico.
Como os nossos predecessores de um século atrás, presumimos que uma guerra mundial é algo que não fazemos mais. O líder socialista francês Jean Jaures, um homem que tentou, sem sucesso, barrar a escalada do militarismo nos primeiros anos do século XX, entendeu isso muito bem. "A Europa já passou por tantas crises e por tantos anos", ele disse, logo antes do início da guerra, "já foi perigosamente desafiada tantas vezes sem que guerra alguma acontecesse, que praticamente parou de acreditar nessa ameaça e assiste ao interminável conflito nos Bálcãs com pouca atenção e reduzida preocupação".
Com diferentes líderes, a Primeira Guerra poderia ter sido evitada. A Europa de 1914 precisava de um Bismarck ou de um Churchill, com força o suficiente para suportar a pressão e capacidade de enxergar o quadro estratégico de forma mais ampla. Em vez disso, as potências-chave tinham líderes fracos, distraídos e divididos. Hoje, o presidente dos EUA encara uma série de políticos na China que, como aqueles da Alemanha há um século, querem muito que sua nação seja levada a sério. No caso de Vladimir Putin, Obama lida com um nacionalista russo que é mais astuto e mais forte que o pobre czar Nicolau II.
Obama, como Woodrow Wilson, é um grande orador, capaz de apresentar uma visão de mundo e inspirar os americanos. Mas, como Wilson no final da guerra, lida com um Congresso pouco cooperativo. Talvez ainda mais preocupante seja o fato de que ele pode estar numa posição similar à do primeiro-ministro britânico em 1914, Herbert Asquith – que presidia um país tão dividido que não conseguia exercer uma liderança ativa ou construtiva no mundo.
Às vésperas de 2014, os EUA ainda são a maior potência mundial, mas não são mais tão poderosos quanto já foram. O país sofreu derrotas militares no Iraque e no Afeganistão, e vem encontrando dificuldades de encontrar aliados que o apoiem, como mostra a crise na Síria. Desconfortavelmente cientes de que têm poucos amigos confiáveis e muitos inimigos em potencial, os americanos consideram agora o retorno a uma política isolacionista. Estariam os EUA no limite de seu poder de influência, como o Reino Unido já esteve no passado?
Pode ser necessário um momento de real perigo para forçar as grandes potências a se unirem em coalizões capazes e dispostas a agir. Em vez de ficar pulando de crise em crise, talvez seja a hora de repensar as terríveis lições de um século atrás – na esperança de que nossos líderes, com o nosso apoio, repensem como podem trabalhar juntos para construir uma ordem internacional estável.