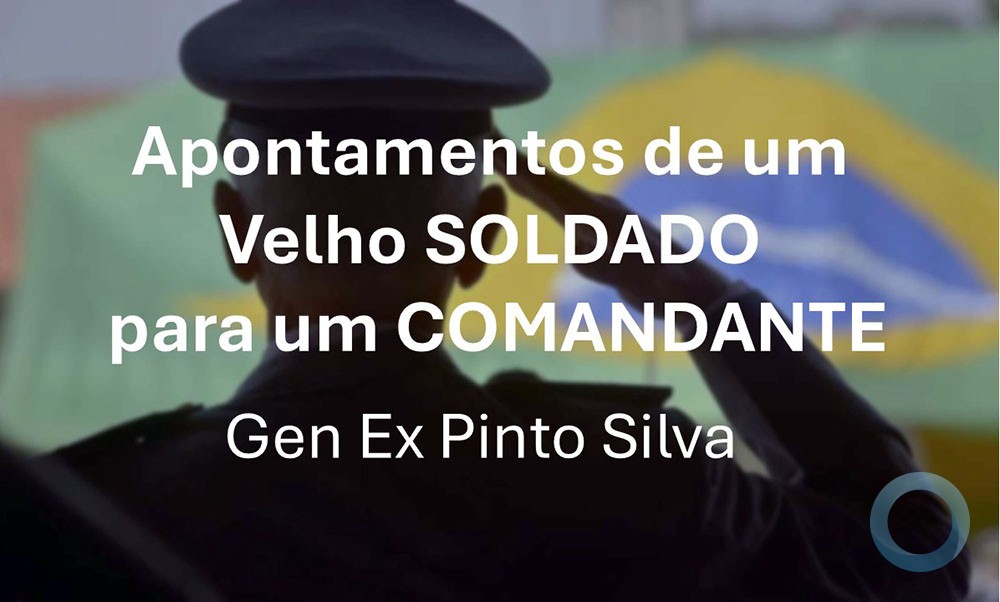Alerta Científico e Ambiental
MSIa
Apanhado pela pandemia de Covid-19 em meio à maior crise socioeconômica de sua história, o Brasil viu-se obrigado a recorrer a fornecedores estrangeiros para obter as vacinas necessárias para imunizar a sua população, tendo que disputar uma dura concorrência pelos produtos disponíveis, em condições e preços que seriam muito mais favoráveis se o País tivesse uma produção própria. Para complicar, a fabricação das vacinas já produzidas aqui, a Coronavac, parceria da empresa chinesa Sinovac com o Instituto Butantan, e a Oxford/AstraZeneca, em parceria com o Instituto Farmanguinhos/Fiocruz, dependem de suprimentos dos essenciais Insumos Farmacêuticos Ativos (IFA), majoritariamente importados da China e da Índia. Diante desse quadro, uma pergunta se impõe: por que o Brasil, que tem pesquisadores e laboratórios de excelência em biotecnologia e farmacologia, além de ser referência mundial em campanhas de vacinação, não apostou no desenvolvimento das suas próprias vacinas contra o coronavírus?
Uma impactante reportagem da BBC Brasil (“Coronavírus: Brasil tem quase 30 fábricas de vacina para gado e só 2 para humanos”, 24/02/2021) proporciona uma parte importante da resposta – e ela é bastante desfavorável para a orientação geral dada pelas elites dirigentes brasileiras ao desenvolvimento nacional, nas últimas décadas, refletida na incapacidade de o País responder com eficiência maior à pandemia.
A reportagem informa que:
– na década de 1980, o Brasil tinha cinco institutos aptos para a produção de vacinas; hoje, são apenas dois: Farmanguinhos e Butantan;
– das 17 vacinas atualmente distribuídas pelos dois institutos, apenas quatro são totalmente fabricadas no País e não dependem da importação de IFA;
– na década de 1980, a produção interna de IFA superava 50%; hoje, não chega a 10%.
Entretanto, estes dados se referem às vacinas para seres humanos. O quadro é totalmente diverso na fabricação de vacinas veterinárias, atendido por 30 fábricas e com mais de 90% de autossuficiência nos processos produtivos, com um nível de produção que permite a exportação para países da América do Sul.
O vice-presidente executivo do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Saúde Animal (Sindan), Emílio Saldanha, confirma: “Todo o processo de fabricação, da semente de trabalho do vírus vivo ao envase e distribuição, é feito aqui. Para mais de 90% das vacinas voltadas a gado, o ciclo completo de produção ocorre em território brasileiro. Faz 30 anos que somos autossuficientes nas principais vacinas para rebanho brasileiro. Vacinação é sinônimo de competividade.”
O que explica a diferença? Simples: como disse Saldanha, vacinação do gado é sinônimo de competitividade – e bons lucros, já que o Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo.
Já a saúde dos seres humanos, em vez de fator de competitividade e ganhos de eficiência, costuma ser considerada como pouco mais que um sorvedouro de gastos crescentes e, para alguns, exagerados, haja vista a recente tentativa de se acabar com os índices constitucionais de gastos mínimos com saúde e educação, em boa hora retirada da pauta do Senado.
A deterioração da indústria de vacinas é uma demonstração cabal da desvantagem dos humanos brasileiros na agenda nacional. E o que ocasionou esse virtual desmonte de um setor tão crucial para o País? Resposta: a mentalidade “balcão de negócios” prevalecente durante toda a “Nova República”, totalmente alheia a qualquer conceito de um projeto nacional de desenvolvimento soberano, inclusivo e solidário. Vejamos como isto ocorreu.
O fundador e primeiro presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Gonzalo Vecina Neto, observa que a pesquisa e fabricação nacional de vacinas humanas experimentou um auge de investimentos na década de 1980: “No regime militar, foi implementado o modelo de substituição de importações. Os militares fizeram um esforço para ampliar capacidade produtiva local de insumos farmacêuticos e o pico se deu no final dos anos 1980.”
Em 1985, foi lançado o Programa de Autossuficiência de Imunobiológicos (PASNI), cujo objetivo estava explicitado no seu próprio nome. Com ele, grandes recursos do Ministério da Saúde foram transferidos para quatro instituições de pesquisa: Farmanguinhos, Butantan, Fundação Ezequiel Dias (Belo Horizonte-MG) e Instituto Vital Brazil (Niteroi-RJ).
Os resultados foram rápidos e, em poucos anos, o País passou a fabricar vacinas como a tríplice viral, febre amarela, tríplice bacteriana, poliomielite, tuberculose (BCG) e hepatite B.
Porém, a maré começou a virar em 1990, com a ampla e descuidada abertura comercial promovida pelo governo de Fernando Collor de Mello (1990-92), a qual escancarou as portas para a entrada maciça de produtos importados, inclusive imunizantes. O resultado foi o fechamento de empresas e institutos, deixando apenas o Butantan e Farmanguinhos na produção de vacinas, com índices de nacionalização cada vez menores.
Com a palavra, o gerente de Parcerias Estratégicas e Novos Negócios do Butantan, Tiago Rocca: “O Brasil passou a importar em larga escala IFA, moléculas pequenas e outras matérias-primas usadas para fazer vacina. O problema é que os investimentos não acompanharam a competitividade e abertura. Atualmente, importamos cerca de 90% dos insumos imunobiológicos.”
Vecina Neto, hoje professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP), confere: “A abertura da economia no governo Collor foi feita sem cuidado, sem verificar como os diferentes segmentos seriam afetados. Na indústria farmacêutica, o que fizemos foi secar a capacidade de produção nacional e passar a importar tudo através das multinacionais.”
Foi nesse momento que a China e a Índia começaram a despontar no cenário mundial como grandes exportadores de toda sorte de produtos baratos, inclusive imunizantes e outros insumos farmacêuticos.
No entanto, o caixão da indústria setorial recebeu o proverbial prego final no governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), com a criação da Anvisa, em 1999. Com a agência, vieram um regime mais rigoroso para a liberação de medicamentos e regras para equiparar o Brasil aos padrões internacionais mais avançados de segurança e qualidade em pesquisa – mais que necessário, mas sem as contrapartidas dos investimentos necessários para a adequação da infraestrutura produtiva aos novos critérios.
Com isso, tanto o Butantan como a Fiocruz passaram a importar vacinas que já produziam, como a Tríplice Bacteriana Acelular (contra a difteria) e a de hepatite B. Atualmente, das sete vacinas fornecidas pelo Butantan, apenas a de gripe é de produção 100% nacional, e das dez fornecidas pela Fiocruz, seis dependem de IFA importado.
“Nós registramos a patente, detemos a tecnologia, mas precisamos de uma nova fábrica para produzir essas vacinas de acordo com as melhores práticas da Anvisa”, afirma Rocca.
A microbiologista Ana Paula Fernandes, professora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), ressalta que o gargalo na indústria nacional de vacinas é a inexistência de laboratórios tecnológicos e fábricas para viabilizar a transformação da pesquisa em produto final: “Temos capacidade técnica, pesquisadores de ponta, mas existem gargalos que impedem que as descobertas se transformem em vacina. Temos conhecimento técnico para fazer vacinas como a da Pfizer e Moderna contra a covid-19, mas não temos matéria-prima, investimentos e fábricas para produzir.”
No jargão do setor, tais gargalos são chamados o “vale da morte”, pois entre a produção científica e a sua industrialização, há um abismo intransponível.
“Nós temos uma ciência de excelência no Brasil, mas precisamos atravessar o vale da morte, que é ir da descoberta científica nos laboratórios acadêmicos para a fase final, da industrialização”, lamenta Jorge Kalil, diretor do Laboratório Incor de Imunologia, professor de Imunologia da USP e ex-presidente do Butantan.
Para Vecina Neto, faltou visão estratégica aos governos que geraram a situação: “O boom das commodities estimulou os governos a navegar em águas tranquilas e se fiar na exportação de produtos agrícolas. Por que FHC e Lula não investiram na autossuficiência em vacinas? Falta de visão de longo prazo. Nenhum dos dois tirou o pé do curto prazo, do populismo local, da reeleição no quarto ano.”
De acordo com os cânones do “balcão de negócios”, o principal argumento contrário aos investimentos na produção de vacinas nacionais é que sai mais barato importar da China e da Índia do que reconstruir uma infraestrutura para assegurar a autossuficiência. Mesmo que, de acordo com a Associação brasileira da Indústria de Insumos Farmacêuticos (Aibquifi), em 2019, a balança comercial de insumos farmacêuticos tenha tido um déficit de R$ 2,1 bilhões. E, devido às mais de três décadas de penúria no setor, a reversão desse quadro necessitaria de fortes investimentos públicos, um anátema para o “balcão”, totalmente empenhado no controle do orçamento federal para assegurar a cobertura plena do serviço da dívida pública – não por acaso, desde a década de 1990, o melhor “negócio” do País.
Por outro lado, a produção de vacinas veterinárias vai de vento em popa, por uma combinação de fatores, entre eles, o programa federal de erradicação da febre aftosa até 2026.
“O grande parque tecnológico industrial foi na trilha da produção de vacina contra febre aftosa. Todos captaram recursos para fabricação dessa vacina e foram produzidos, nos últimos 20 anos, mais de 6,2 bilhões de doses aqui no Brasil”, disse Otto Mozzer, dono da empresa Allegro Biotecnologia.
Ademais, as vacinas veterinárias têm custos de produção mais baixos, tanto pelas normas de licenciamento do Ministério da Agricultura, menos rigorosas do que as da Anvisa, como pelo fato de as dimensões do rebanho nacional (cada um dos 220 milhões de bovinos brasileiros necessita de duas doses anuais da vacina contra a febre aftosa) assegurarem um grande mercado consumidor, que não depende de orçamentos públicos, como o dos programas de vacinação do Ministério da Saúde.
Ou seja, a proteção do gado recebeu uma atenção, com programa de governo e incentivos para investimentos, que escasseou no setor de vacinas humanas.
No entanto, a despeito das décadas de descaso, a pandemia de Covid-19 está deixando claro, até para os mais reticentes adeptos das soluções “de mercado” como panaceia universal, a enorme vulnerabilidade ensejada pelas deficiências do complexo industrial de saúde brasileiro e a dependência de fornecimentos externos para medicamentos fundamentais. Por conseguinte, independentemente de idiossincrasias ideológicas, é uma questão de segurança nacional que tal quadro seja revertido. Aliás, a recuperação do complexo industrial de saúde, juntamente com a química fina e outros setores correlatos, pode funcionar como um promissor início da reversão do grave processo de desindustrialização que afeta o País (não por coincidência, no mesmo período que devastou a indústria de vacinas humanas).
A rigor, a reconstrução da indústria de saúde precisa caminhar em paralelo com uma aceleração da universalização da infraestrutura de saneamento básico, deficiência histórica cujas consequências sanitárias foram igualmente escancaradas pela pandemia. Tanto uma como a outra têm um elevado potencial positivo para a reversão da estagnação socioeconômica que se arrasta desde 2015, tornada ainda mais inadiável pelo assalto do coronavírus.
Para tudo isso, porém, será preciso que se recupere o velho e consagrado impulso do projeto nacional de desenvolvimento – fatidicamente abandonado pelas lideranças brasileiras, após uma breve e turbulenta experiência no meio século posterior a 1930.