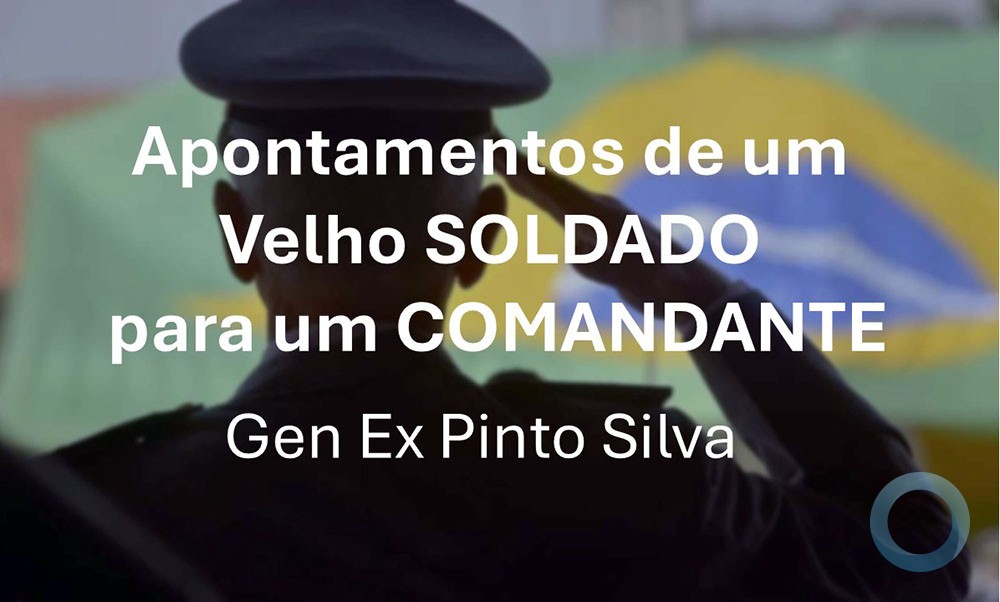Depois de investir por mais de um ano e meio no estreitamento das relações entre Brasil e Estados Unidos, o governo de Jair Bolsonaro (sem partido) parece cada vez mais próximo de perder seu aliado preferencial: o atual presidente americano e candidato à reeleição pelo partido republicano Donald Trump.
Atrás nas pesquisas eleitorais e amargando taxas de popularidade próximas ao seu piso no mandato, em meio a uma grave crise pandêmica e econômica, que já custou a vida de 130 mil americanos e mais de 30 milhões de empregos, Trump hoje tem menos chances estatísticas do que o democrata Joe Biden de ser o ocupante da Casa Branca a partir do ano que vem.
O modelo da revista britânica The Economist, por exemplo, aponta Biden com 90% de chances de vencer no colégio eleitoral americano, que define o novo presidente.
Para o Brasil, o resultado das eleições presidenciais de novembro nos Estados Unidos é um dos mais importantes na história da relação entre os países.
"Na nossa trajetória de mais de cem anos de política externa republicana tivemos pelo menos outros quatro momentos de alinhamento com os americanos: no início do século, com o Barão do Rio Branco, no governo Dutra, nos anos 1940, na ditadura militar, a partir de 1964 e no governo Collor, nos anos 1990.
Mas nesse grau que vemos hoje é inédito. E é inédito também porque é um alinhamento ideológico, parece um alinhamento mais entre governos do que entre países", diz Dawisson Belém Lopes, professor de relações internacionais da UFMG.
A harmonia não é evidente apenas em gestos de simpatia, como no convite de Trump para que o filho do presidente brasileiro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, estivesse na reunião privada dos dois mandatários no salão oval da Casa Branca em março de 2019, ou nos bonés com slogans do político americano como "Make America Great Again" ou "Trump 2020", que o mesmo Eduardo gosta de vergar em público.
O Brasil também alterou significativamente sua posição histórica no xadrez global e ancorou suas opiniões na agenda de Trump. Isso aconteceu, por exemplo, na proposta de mudar a embaixada brasileira em Israel de Tel-Aviv para Jerusalém, o que apenas os Estados Unidos fizeram até agora, e que foi considerado um desrespeito pelos árabes já que os palestinos disputam o controle de parte da cidade.
Ou em posturas agressivas contra a China e contra órgãos multilaterais, como a Organização das Nações Unidas ou a Organização Mundial da Saúde. Ou mesmo na posição negacionista e cética em relação ao coronavírus e ao aquecimento global.
E se der Biden na Casa Branca?
A eventual retomada da Casa Branca pelos democratas mudaria sensivelmente ao menos parte desse cenário. "É certo que a agenda do meio ambiente, direitos humanos e direitos trabalhistas que não está na mesa hoje na relação dos dois presidentes deve ser incorporada às discussões bilaterais caso Biden vença", afirmou à BBC News Brasil Abrão Árabe Neto, vice-presidente executivo da Câmara Americana de Comércio (Amcham) no Brasil.
A possibilidade de mudança tem gerado certa especulação e tensão entre brasileiros, alguns dos quais temem que o país possa ser ostracizado diante das diferenças entre Biden e Bolsonaro – o que anularia todo o investimento feito em uma aproximação que, segundo especialistas em relações internacionais, por enquanto trouxe menos benefícios do que custos ao Brasil.
Contribuiu para o mal-estar uma carta que 24 deputados democratas da Comissão de Orçamento e Assuntos Tributários enviaram ao representante comercial dos Estados Unidos, Robert Lighthizer, no começo de junho.
Na comunicação os deputados diziam: "Nós nos opomos fortemente a buscar qualquer tipo de acordo comercial com o governo Bolsonaro no Brasil. O aprimoramento do relacionamento econômico entre os Estados Unidos e o Brasil, neste momento, iria minar os esforços dos defensores dos direitos humanos, trabalhistas e ambientais brasileiros para promover o Estado de Direito e proteger e preservar comunidades marginalizadas".
Os dois países têm se esforçado para chegar a consenso sobre temas comerciais não tarifários e há a expectativa de que haja algum anúncio nesse sentido até o fim do ano.
A embaixada brasileira foi a campo, por meio de uma carta, tentar desfazer o mal-estar. O indicado a embaixador do Brasil em Washington, Nestor Forster, também passou a procurar individualmente os congressistas que assinaram a carta para uma conversa.
Há cerca de três semanas, por vídeo, ele se reuniu com o congressista Earl Blumenauer, o responsável por comércio na Comissão.
Mas, de acordo com ex-auxiliares de Biden e democratas ouvidos pela BBC News Brasil, não existe o risco de que o Brasil passe a ser tratado como uma espécie de Venezuela da direita em um eventual novo governo democrata.
Primeiro porque o Brasil é visto como um país de relevância regional para ajudar a alterar o regime venezuelano, uma das prioridades no continente tanto para democratas quanto para republicanos.
Segundo porque, lembram os auxiliares, Biden não é Trump e vai atuar para trazer para a mesa de negociação o máximo de aliados possíveis, especialmente em um momento em que o status da China como o adversário a ser batido se tornou um consenso suprapartidário na política americana.
"Ideologia não deve ser a régua com a qual os Estados Unidos medem os seus aliados. O que importa são as áreas de interesse em comum que os dois países têm, independentemente de quem seja o presidente do Brasil no momento", afirmou à BBC News Brasil Juan Gonzalez, ex-conselheiro para assuntos de América Latina do então vice-presidente Joe Biden durante a gestão Obama.
"Biden é um político profissional, sabe muito bem separar retórica de pensamento estratégico", concorda Gabrielle Trebat, ex-secretária adjunta de negócios do Tesouro americano e atualmente diretora da consultoria McLarty, cujo fundador, Nelson Cunningham, também tem sido ouvido por Biden em temas de América Latina.
Segundo Trebat, a carta dos congressistas democratas fala mais sobre o momento político polarizado nos Estados Unidos – e sobre o interesse em impor derrota a Trump em ano eleitoral – do que sobre a relação com o Brasil em si.
"Com Biden tende a ser uma relação mais estável e previsível do que o que estamos vendo agora. Pode até ser bom para o Brasil", opina Trebat.
Em ao menos um aspecto, a deportação em massa de brasileiros, isso parece ser verdade. Trump tem como base de sua agenda políticas anti-imigração e desde o fim do ano passado adotou a prática de enviar aviões fretados pelo governo americano brasileiros que cruzassem a fronteira com o México irregularmente.
Biden provavelmente suspenderia esse tipo de deportação sumária, que gerou críticas ao governo de Bolsonaro, acusado de não defender os brasileiros no exterior.
Biden está para o meio ambiente como Carter esteve para os direitos humanos?
Mas há ao menos um tema em que uma eventual gestão democrata deve aumentar a pressão sobre o governo Bolsonaro.
Biden já anunciou que o meio ambiente será uma das suas prioridades: se vencer, vai recolocar os americanos no Acordo do Clima de Paris, do qual foram retirados por Trump, em um movimento que o próprio Bolsonaro disse ter interesse em imitar.
Da mesma forma, o democrata já avisou que, em sua gestão, nenhum acordo comercial será fechado "sem que haja um ambientalista na mesa de negociações".
Em março, durante um debate democrata em que foi perguntado sobre o que faria para colocar em prática seu plano de US$1,7 trilhões anti-aquecimento global, Biden mencionou especificamente a questão do desmatamento em território brasileiro em sua resposta: "Eu estaria agora organizando o hemisfério (ocidental) e o mundo para fornecer US$ 20 bilhões para a Amazônia, para o Brasil não queimar mais a Amazônia, para que pudessem manter as florestas".
Diferentemente do que aconteceu no ano passado, durante a temporada de queimadas na Amazônia, quando a Europa – especialmente França, Alemanha e Noruega – se levantou contra a devastação da floresta e o governo Trump atuou para baixar a fervura da discussão internacional e impedir que recomendações fossem feitas ao governo Bolsonaro pelos membros do G7, um governo Biden tenderia a atuar no caminho oposto.
Para um embaixador brasileiro com experiência em Estados Unidos, ouvido reservadamente pela BBC News Brasil, o governo Biden poderia funcionar em relação ao meio ambiente como o governo do democrata Jimmy Carter (1977-1981) atuou em favor dos direitos humanos no Brasil e na América Latina durante os regimes militares na região.
Carter substituiu a política externa dos antecessores republicanos Ronald Reagan e Gerald Ford de indiferença em relação a torturas, assassinatos e abusos cometidos pelos governos ditatoriais locais que eram simpáticos aos americanos e anti-soviéticos. Passou a pressionar pelo fim dessas práticas e influenciou, em certa medida, o processo de redemocratização brasileira.
Em suas denúncias das violações de direitos humanos no Brasil, houve na equipe de Carter quem defendesse sanções econômicas ao Brasil. Assim como na época, essa é uma saída improvável de ser aplicada pela gestão Biden.
Mas tanto a ideia do fundo de apoio quanto um acompanhamento mais próximo da questão e eventual vocalização de críticas públicas ou via Embaixada Americana no Brasil seriam muito prováveis, de acordo com membros do Itamaraty consultados pela reportagem.
Um governo Biden daria mais um empurrão no ministro Ernesto Araújo para fora da cadeira de chanceler.
Araújo é frequentemente lembrado em Washington justamente por um discurso que fez na capital americana, em setembro de 2019, no think tank conservador Heritage Foundation, em que negava o aquecimento global e dizia que críticas na condução do país em relação à devastação da Amazônia eram meros ataques à soberania brasileira.
Para parte dos democratas, Araújo deixou de se mostrar um interlocutor respeitável nesse momento.
A crise do ano passado, aliada ao ciclo atual de desmatamento, que já supera o de 2019, ajudam a explicar por que, há duas semanas, 29 instituições financeiras que gerenciam mais de R$ 3,7 trilhões em investimentos enviaram ao Brasil uma carta em que afirmavam que "é provável que os títulos soberanos brasileiros sejam considerados de alto risco se o desmatamento continuar".
O agronegócio brasileiro também passou a enfrentar resistências aos produtos exportados para Europa.
Em um possível governo Biden, o mal-estar também poderia chegar aos Estados Unidos. Mas, argumentam auxiliares do democrata ouvidos pela BBC News Brasil, erra quem apostar em medidas duras e corte de vias diplomáticas.
Citam como exemplo do estilo diplomático de Biden sua condução da crise aberta com a então presidente brasileira Dilma Rousseff, em 2013, diante das denúncias de que a Agência de Segurança Nacional (NSA, na sigla em inglês) havia espionado comunicações dela, de outros integrantes do governo brasileiro e da Petrobras.
Dilma cancelou viagem que faria aos Estados Unidos, durante a qual seria recebida em jantar de gala na Casa Branca por Obama. Biden se empenhou pessoalmente em se desculpar e desfazer o mal-estar.
Tanto assim que em 2014, o então vice-presidente veio ao Brasil para se encontrar com Dilma e tentar reestabelecer o relacionamento. Conseguiu costurar uma nova visita da mandatária brasileira aos Estados Unidos para 2015.
"Ele não fez isso porque era a Dilma Rousseff ou qualquer outro. Ele fez isso porque ele é Joe Biden. Ele sempre trabalhou para aproximar Brasil e Estados Unidos. Esse interesse de aproximação do Brasil existe, ele não vai fechar a porta para isso", afirma um ex-auxiliar de Biden à BBC News Brasil.