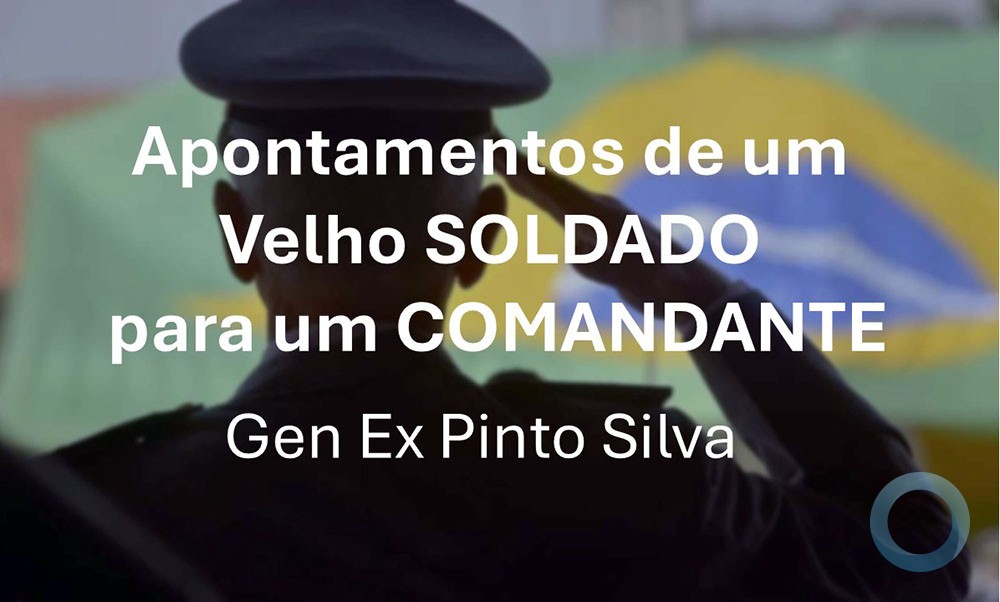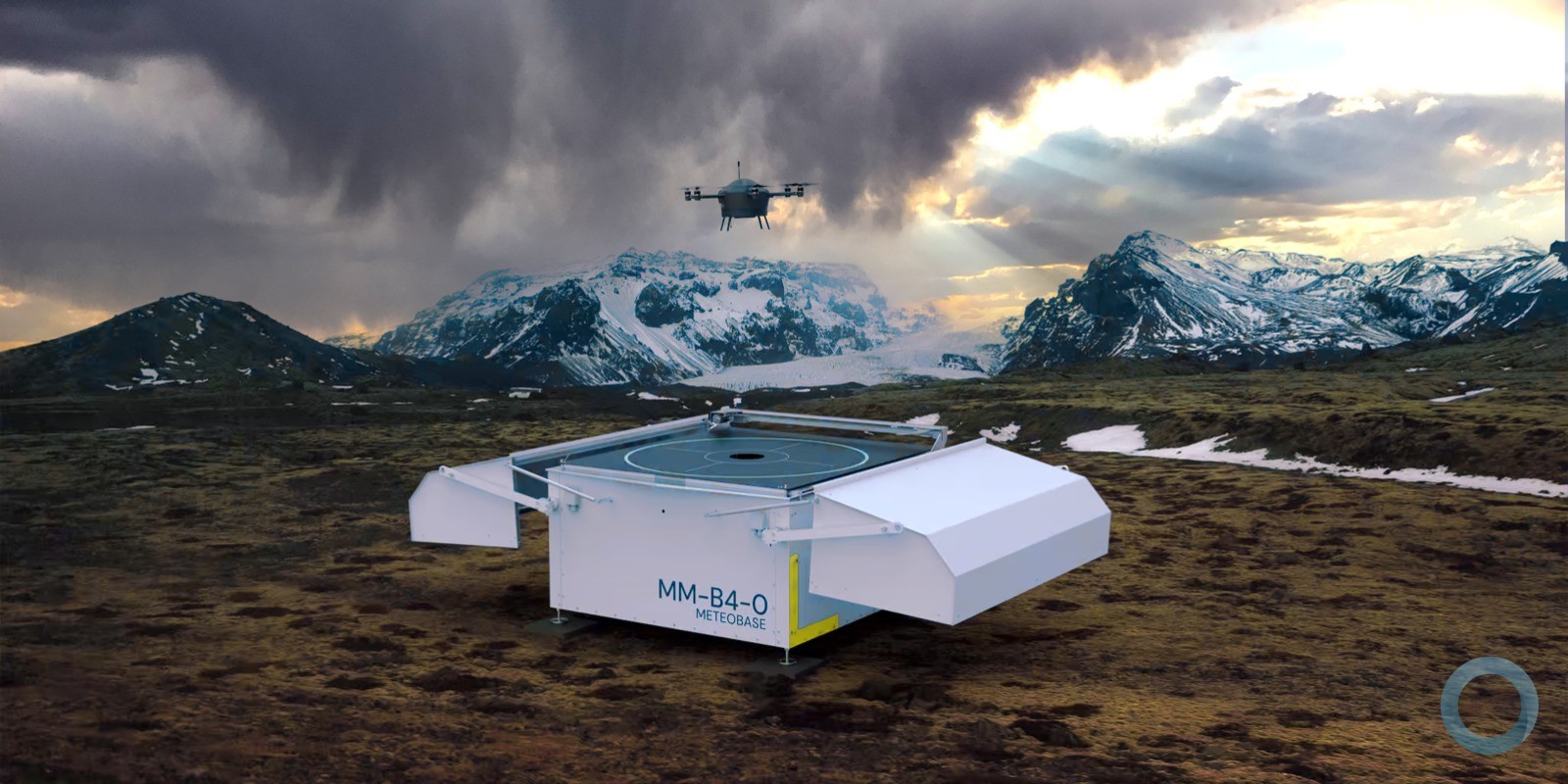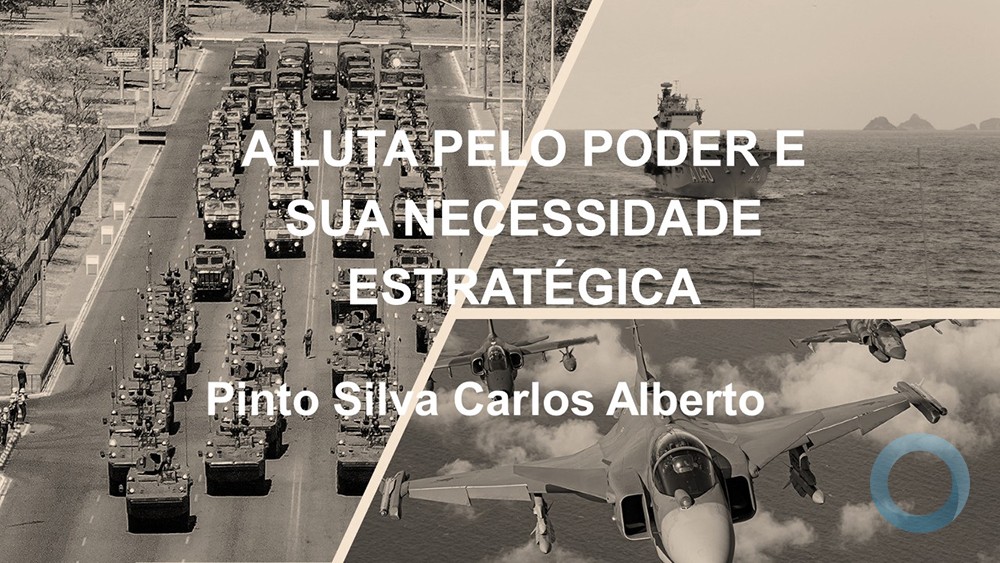Luiz Carlos Azedo
Jornalista, colunista do Correio Braziliense
Na época do regime militar, o projeto de institucionalização do autoritarismo no Brasil era uma espécie de “mexicanização” do país, na qual o “dedazo” do Partido Revolucionário Institucional (PRI) seria substituído por um presidente civil, a ser ungido no Congresso pela antiga Arena, depois de indicado pelos militares. Dizia-se que o Brasil tinha uma “democracia relativa” e que a abertura política do governo do general Ernesto Geisel poderia resultar na passagem do poder para um presidente civil.
O grande artífice desse projeto era o político piauiense Petrônio Portela, presidente do Senado. A estratégia começou a fazer água com o resultado das eleições de 1974, quando o MDB, o único partido de oposição, teve uma vitória espetacular nas urnas. Com mão de ferro, Geisel indicou outro general como sucessor: João Batista Figueiredo.
Portella, que aspirava à Presidência, porém, não desistiu da abertura política. No novo governo, foi ministro da Justiça e negociou com a oposição, cada vez mais forte nas ruas e nas urnas, a Lei de Anistia e a volta do pluripartidarismo. Era o candidato natural do PDS (a antiga Arena havia mudado de sigla) à sucessão de Figueiredo, mas teve um infarto e morreu em 1980. O candidato do PDS foi Paulo Maluf, que impôs seu nome aos militares.
Porém, foi derrotado no colégio eleitoral pelo governador mineiro Tancredo Neves (PMDB), lançado logo após a derrota das Diretas Já, cuja campanha fora liderada por Ulysses Guimarães. Tancredo morreu antes de tomar posse, e quem assumiu a Presidência foi o vice, José Sarney, oriundo do PDS, que convocou a Assembleia Nacional Constituinte da qual resulta a atual Constituição. Essa história é bem contada na série A Ditadura, de Elio Gaspari, cujo quinto volume, A Ditadura Acabada (Intrínseca), foi lançado neste ano.
Do golpe de 1964 à Constituinte, houve dois grandes debates na esquerda brasileira. O primeiro, quanto à natureza do regime: seria fascista ou bonapartista? Os que o consideravam fascista defendiam uma ampla aliança em defesa da redemocratização do país. Para quem o julgava bonapartista, a tática era organizar uma frente popular contra o regime, cuja derrubada deveria se confundir com a revolução socialista.
Os primeiros defendiam a participação nas eleições e o apoio ao MDB; os segundos pregavam o voto nulo. A questão da luta armada, que dividiu a esquerda, decorria mais da avaliação de que João Goulart só foi deposto porque não houve resistência armada ao golpe, ao contrário do que aconteceu na renúncia do presidente Jânio Quadros.
Essas divergências foram sendo progressivamente ultrapassadas pelo processo político real. Refletiam um choque de concepções cujo eixo é a maneira de encarar a democracia e seus valores. Para alguns, a “democracia burguesa” é uma mera contingência, na qual se deve utilizar as liberdades e direitos para chegar ao poder e implantar um regime socialista.
Uma vez no governo, a tarefa seria direcionar a intervenção do Estado para consolidar sua hegemonia política e promover transformações anticapitalistas. Para outros, não: a democracia é um valor universal e toda e qualquer reforma econômica e social deve respeitar seus pressupostos.
Regras do jogo
Essa discussão está de volta, num contexto completamente diferente, ou seja, sem “guerra fria” e ditadura. Foi “exumada” nos governos Lula e Dilma, a partir da simbiose entre o nosso “capitalismo de laços” e o projeto de “capitalismo de Estado” nacional desenvolvimentista, pela via do neopopulismo. Essa experiência derivou para um misto de transformismo político e degeneração moral do PT e suas principais lideranças.
Com o impeachment de Dilma Rousseff, o fracasso tornou inevitável um ajuste de contas entre as forças que davam sustentação ao projeto. Mas esse debate está sufocado pela narrativa do “golpe parlamentar”, a tentativa de caracterizar a Operação Lava-Jato como a “fascistização” do país e a defesa do lulismo como falacioso “Estado de bem-estar social”. É uma tentativa, com sinal trocado, de caracterizar o Estado de direito brasileiro como uma “democracia relativa”.
O resultado das eleições municipais é uma resposta da sociedade a esse engodo. O PT foi apeado do poder porque não respeitou as regras do Estado de direito democrático. A responsabilidade fiscal faz parte dessas regras, assim como o combate à corrupção e aos meios ilícitos para chegar e se manter no poder. O apoio popular à Operação Lava-Jato sinaliza na mesma direção para outros atores políticos.
É nesse contexto que a discussão sobre o teto dos gastos públicos ganha nova dimensão. A necessidade de submeter as despesas primárias da União a um teto determinado pelos gastos do ano anterior corrigidos pela inflação ergue um muro contra a ineficiência, o populismo, o clientelismo e o patrimonialismo; ao aparelhamento do Estado pelas corporações e oligarquias. É um bom debate sobre a escolha de prioridades, o velho conflito distributivo e a relação entre o Estado e a sociedade —- de acordo com as regras do jogo democrático.