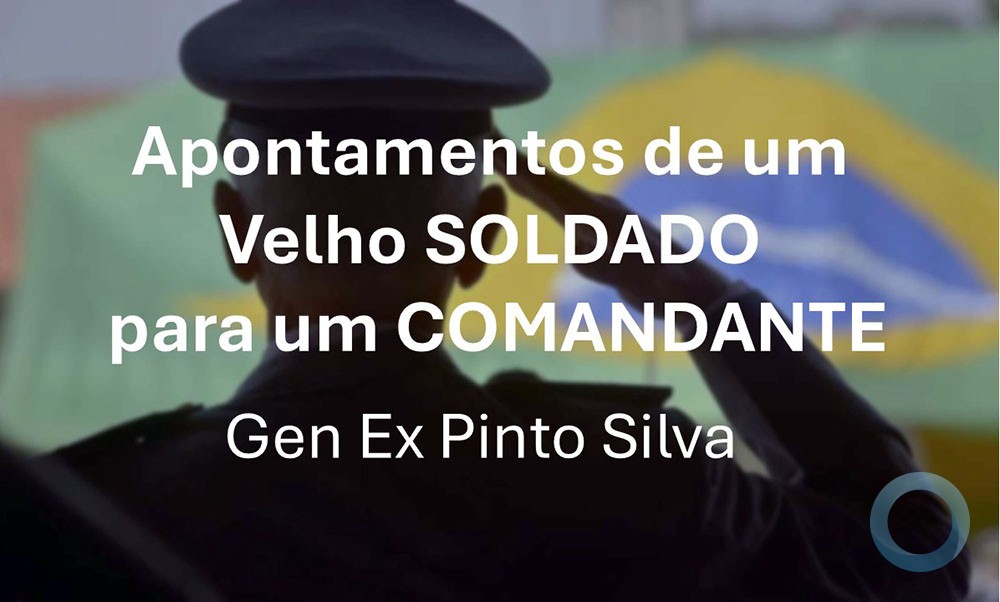Geraldo Luís Lino
Há 50 anos, em 22 de novembro de 1963, também uma sexta-feira, ocorreu o que, na época, foi chamado com propriedade "o crime do século": o assassinato do presidente John Fitzgerald Kennedy, antes de completar o terceiro ano do seu mandato, iniciado em janeiro de 1961. Meio século depois, ainda vale refletir sobre as consequências de uma tragédia que representou um ponto de inflexão histórica, não apenas para os EUA, mas para todo o mundo.
Com o assassinato e o posterior acobertamento da conspiração da qual resultou, consolidou-se no comando da superpotência estadunidense um aparato de poder oligárquico de mentalidade supremacista e belicista, cujas políticas, desde então, têm impelido os EUA em um rumo bem diferente do vigoroso papel construtivo que poderia desempenhar nos assuntos mundiais. Em seu lugar, se impôs uma desestabilizadora agenda hegemônica, agressiva e militarizada, utilizando como pretexto, inicialmente, o cenário global da Guerra Fria e, após o término desta, com a implosão do bloco soviético, o "choque de civilizações" e a "guerra ao terror".
O sucesso obtido na eliminação de Kennedy e na maciça operação de acobertamento para impedir que os seus verdadeiros algozes fossem responsabilizados levou aquele grupo hegemônico (chamado por alguns de "governo nas sombras") a aperfeiçoar tal modus operandi, para outras operações clandestinas de grande impacto, inclusive a eliminação de opositores importantes – casos, entre outros, de Robert Kennedy e Martin Luther King, em 1968 (nos quais estiveram em ação alguns dos protagonistas do magnicídio de 1963). Os mesmos procedimentos estiveram em cena décadas mais tarde, como na operação Irã-Contras e seus enlaces com o financiamento da guerrilha anti-soviética afegã com receitas da venda de drogas, na década de 1980, e, mais recentemente, na mal denominada "guerra ao terror" declarada após os ataques de 11 de setembro de 2001 (operação cujas semelhanças com o magnicídio de 1963 também já foram observadas por vários investigadores, inclusive a risível pseudoinvestigação oficial).
Quando morreu, JFK, que fez uma sólida carreira política e se elegeu presidente como um combatente da Guerra Fria, estava decidido a por fim ao conflito ideológico e a um entendimento com a URSS de Nikita Krushchov, com quem trocava uma importante correspondência privada fora dos canais diplomáticos e a quem fez acenos concretos para aquele fim, em um histórico discurso proferido na Universidade Americana, em Washington, em junho de 1963.
Três meses depois, em setembro, ele reforçou a proposta, com a sugestão de que os dois países unissem os respectivos esforços espaciais para a realização de uma missão conjunta à Lua, feita publicamente em um discurso na Organização das Nações Unidas (ONU).
Em 2001, o filho de Krushchov, Sergei, então pesquisador na Universidade Brown (em Providence, Rhode Island), confirmou que seu pai estava inclinado a uma composição com Kennedy. Segundo ele, Krushchov chegou a declarar à cúpula do Kremlin a sua intenção de aproveitar a distensão com os EUA para reduzir as Forças Armadas soviéticas, de 2,5 milhões de homens para apenas 500 mil, convertendo grande parte da indústria militar para a produção civil e liberando recursos econômicos para a agricultura e programas habitacionais. Para Sergei Krushchov, se Kennedy e seu pai tivessem tido mais seis anos (Krushchov foi deposto em outubro de 1964), a Guerra Fria poderia ter se encerrado antes do final da década de 1960.
Tanto para JFK como para Krushchov, o momento decisivo que os colocou no caminho da convergência foi a dramática Crise dos Mísseis de Cuba, em outubro de 1962, quando a instalação de mísseis nucleares soviéticos na ilha caribenha e a ameaça estadunidense de atacar a ilha colocaram o mundo à beira de uma conflagração nuclear entre as superpotências. Tendo estabelecido um canal de comunicação direto, os dois líderes conseguiram superar a oposição dos respectivos estados-maiores militares e o momento mais perigoso da Guerra Fria, evitando um tiroteio nuclear de consequências potencialmente catastróficas para todo o mundo.
O maior problema para ambos foi que, nos dois lados da Cortina de Ferro, havia grupos de grande poder e influência que haviam feito do confronto Leste-Oeste um meio de vida e não estavam dispostos a converter a confrontação em cooperação.
A propósito, bastante emblemático foi um editorial do U.S. News & World Report de 12 de agosto de 1963, reagindo ao aceno de paz feito na Universidade Americana:
(…) Se a paz vier, o que acontecerá com os negócios? Onde será o fundo do poço, se os gastos com a defesa forem cortados?
Tais iniciativas de JFK eram consistentes com a sua visão sobre o papel dos EUA no mundo, a qual rejeitava categoricamente o "excepcionalismo" tão enraizado nos altos círculos do Establishment estadunidense e, por extensão, quaisquer prerrogativas autoconcedidas que costumam acompanhar tal concepção distorcida. Como afirmou em um discurso de novembro de 1961:
Nós devemos encarar o fato de que os Estados Unidos não são onipotentes nem oniscientes; que não podemos impor a nossa vontade aos outros 94% da humanidade; que não podemos corrigir cada erro ou reverter cada adversidade; e que, portanto, não pode haver uma solução estadunidense para cada problema mundial.
No âmbito interno, nos pouco mais de mil dias de seu governo, empenhou-se em alinhar a estrutura e as ações do Estado com os interesses da grande maioria da população, não hesitando em confrontar o poderio dos grandes conglomerados econômicos e financeiros e seus lobbies midiáticos e políticos. Ainda durante a campanha presidencial, ele assim definiu a sua visão de governo:
A responsabilidade do presidente é especialmente grande. Ele deve servir como um catalisador, um energizador, o defensor do bem comum e do interesse público, contra todos os interesses privados estreitos que operam em nossa sociedade. Somente o presidente pode fazer isso, e somente um presidente que reconheça a verdadeira natureza deste duro desafio pode preencher essa função histórica.
Uma vez na Casa Branca, JFK empenhou-se em demonstrar que tal visão não era uma mera retórica, como na vitoriosa queda-de-braço com o cartel do aço encabeçado pela então gigante U.S. Steel, impedindo-o de implementar um aumento conjunto de preços que não se justificava por qualquer razão econômica, no que é até hoje considerado o mais dramático confronto entre um presidente estadunidense e as grandes empresas do país.
Não por acaso, e de forma emblemática, o Wall Street Journal, uma das principais trincheiras midiáticas dos seus opositores, vociferava que o jovem presidente havia convertido o governo no "autonomeado aplicador do progresso".
Os tiros disparados na Praça Dealey, em Dallas, Texas, naquela fatídica sexta-feira de novembro, não mataram apenas um presidente amado dentro e fora de seu país, mas destruíram a perspectiva de futuro positivo com a qual ele acenava aos seus compatriotas e aos cidadãos de todo o mundo. Isto ajuda a explicar por que a sua memória continua viva entre os estadunidenses (principalmente, os que eram pelo menos adolescentes em 1963) e que mais de 40 mil livros já tenham sido escritos a seu respeito.
Golpe de estado na Praça Dealey
Grande parte dessa copiosa bibliografia se refere ao assassinato, sobre o qual numerosas explicações já foram aventadas. Uma das mais bizarras é, precisamente, a versão oficial, referendada pela comissão especial de investigação criada por seu sucessor Lyndon Johnson, a chamada Comissão Warren. De acordo com ela, o assassino solitário foi Lee Harvey Oswald, um ex-fuzileiro naval de inclinações marxistas e socialmente desajustado, que, oprimido pelos seus sucessivos fracassos na vida, decidiu matar o presidente. A façanha teria sido perpetrada com uma carabina de sobra de guerra italiana, com mira telescópica desalinhada, disparando três tiros do sexto andar de um prédio que dava para a Praça Dealey contra o carro aberto de JFK. O feito – que, posteriormente, alguns dos maiores atiradores dos EUA não conseguiram reproduzir em simulações – é ainda mais espantoso pelo fato de Oswald ter se mostrado um atirador medíocre quando serviu nos Marines, mal atingindo a pontuação mínima nas provas de tiro. Convenientemente, ele não sobreviveu para prestar esclarecimentos, tendo sido morto dois dias depois por Jack Ruby, um rufião que controlava um clube de strip-tease e ligado à Máfia local.
Para os investigadores mais sérios, o assassinato foi nada menos que um golpe de Estado determinado por elementos do "governo nas sombras" dos EUA, integrado por setores da comunidade de inteligência (especialmente a CIA), do complexo industrial-militar (aí incluído o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, inimigo visceral de JFK) e certos interesses econômicos e financeiros – grupos cujos interesses vinham sendo sistematicamente contrariados pelo presidente. As evidências sugerem que a parte operacional contou com a participação de elementos da CIA, operativos das redes de cubanos anticastristas que atuavam a partir de Miami e Nova Orleans e das máfias estadunidense e corsa, com as quais a CIA atuava em estreita cooperação desde a II Guerra Mundial, além da imprescindível cooperação da cúpula da corrupta polícia de Dallas.
A tal conclusão chegaram dúzias de investigadores rigorosos. Entre eles, destacou-se o promotor distrital de Nova Orleans, Jim Garrison, que investigou o caso entre 1966 e 1969 e, depois de identificar parte da estrutura operacional do complô, chegou a levar a julgamento um dos seus integrantes, o empresário Clay Shaw, vinculado à CIA em várias tramas internacionais. Sob virulentas pressões da mídia ligada ao Establishment e alvo de uma intensa campanha de descrédito, Garrison não conseguiu a condenação de Shaw, embora os jurados tenham aceitado a sua argumentação de que o assassinato fora o resultado de uma conspiração (o episódio é retratado no magistral filme do diretor Oliver Stone, JFK, que proporciona uma excelente apresentação ao caso).
Um adendo interessante é que a hoje popular expressão "teoria conspiratória", comumente empregada com o intuito de desqualificar contestações às versões oficiais sobre acontecimentos controvertidos, foi criada pela CIA durante a sua campanha para desacreditar a investigação de Garrison.
Além deles, pelo menos três serviços de inteligência de primeira linha investigaram o atentado, por razões próprias, e chegaram a conclusões semelhantes: o KGB soviético, o SDECE francês e a DGI cubana. Há relatos de que o próprio Serviço Secreto (a agência encarregada da proteção do presidente) teria concluído pela presença de três ou quatro atiradores na Praça Dealey, mas, devido ao colossal esquema de acobertamento acionado logo nas primeiras horas após o crime, a imagem de Oswald como o "assassino solitário" foi prontamente consolidada nos meios oficiais e adotada pela Comissão Warren, cujos trabalhos foram orientados, desde o início, a comprová-la.
Em 1976-78, o Comitê Seleto de Assassinatos da Câmara dos Deputados reabriu as investigações oficiais sobre o assassinato e, baseado em novos depoimentos de testemunhas e na análise de gravações do tiroteio na Praça Dealey, concluiu que havia pelo menos dois atiradores e que o presidente fora vítima de uma conspiração, embora os seus autores não pudessem ter sido identificados.
Meio século depois, os EUA e o mundo ainda padecem com os desdobramentos do golpe de Estado desfechado em Dallas. E é simbólico que o seu cinquentenário ocorra quase simultaneamente com o centenário da criação de outro instrumento vital do poderio do "governo nas sombras", o Sistema da Reserva Federal, o banco central privado dos EUA, criado às vésperas do Natal de 1913, cuja influência desestabilizadora nas finanças globais está à vista de todos.
JFK não foi candidato a santo, mas tampouco foi o santarrão em que alguns críticos recentes têm tentado transformá-lo, em uma sequência de obras revisionistas ostensivamente orientadas para denegrir a imagem positiva que a maioria dos estadunidenses insiste em preservar a seu respeito. A despeito das suas debilidades pessoais, foi, acima de tudo, um promotor do progresso e um campeão da aplicação do "princípio do bem comum" na esfera política. Como poucos, soube infundir em seus concidadãos confiança e um sentido de futuro positivo, convocando-os a participar plenamente da vida nacional – condições que, em todas as épocas, sempre foram intoleráveis para os grupos oligárquicos. Pouca coisa mais se poderia exigir de um verdadeiro estadista.