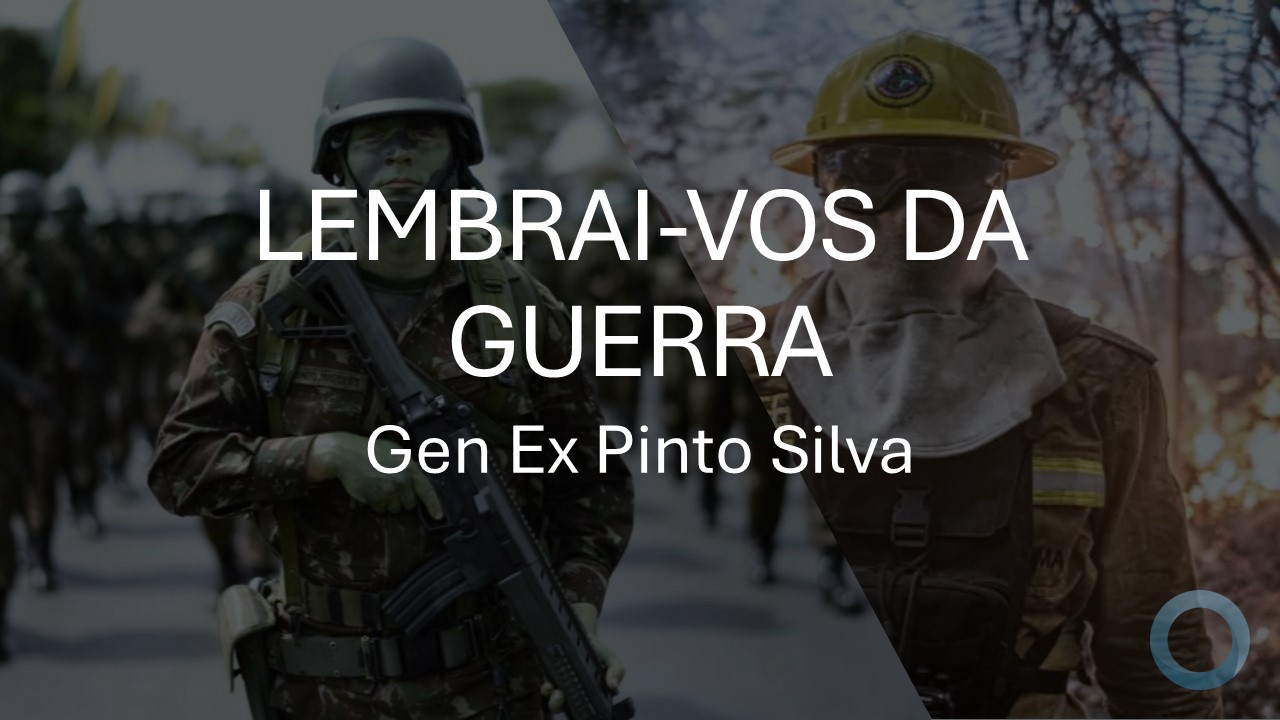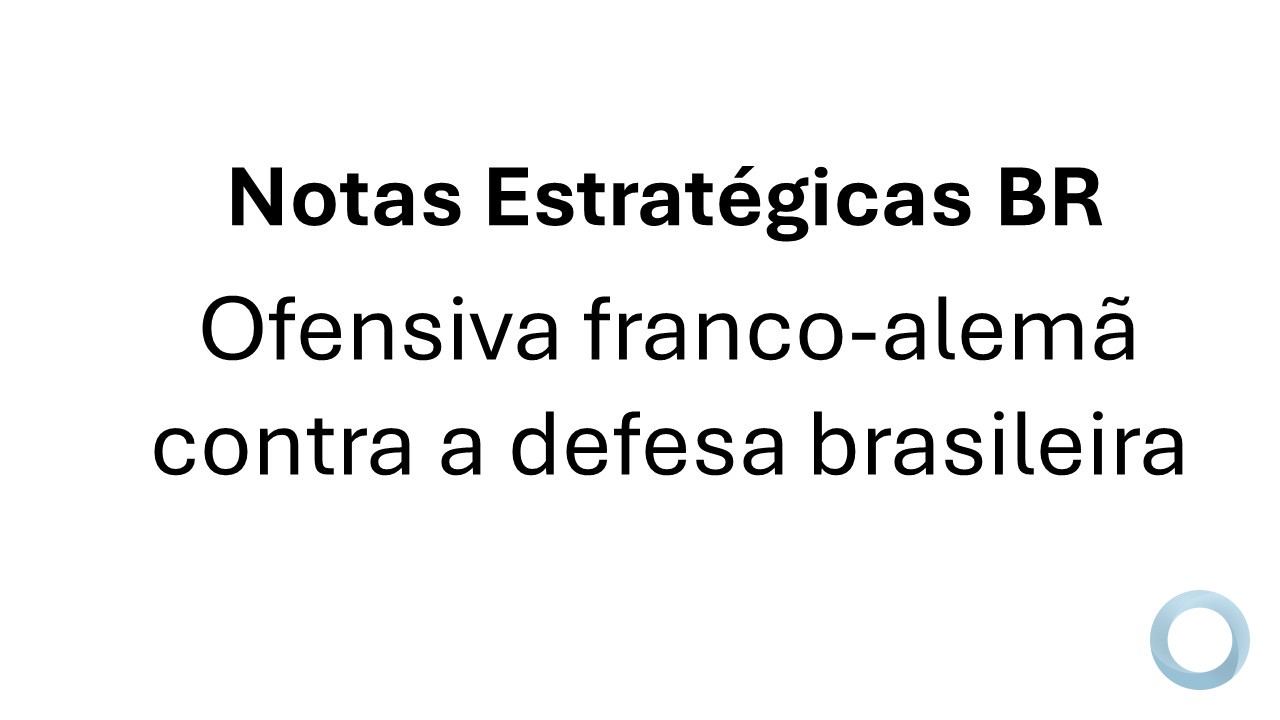O filósofo e professor de Harvard Roberto Mangabeira Unger durante entrevista em São Paulo – Danilo Verpa/Folhapress
Naief Haddad
Repórter especial da Folha
18 Junho 2022
Folha de São Paulo
Em entrevista, Roberto Mangabeira Unger, professor em Harvard e ex-ministro de gestões petistas, diz que Lula não se deu conta de que o cenário mudou em relação a seus mandatos anteriores; afirma que PT tem “discurso açucarado”, buscando atenuar a desigualdade sem sacudir as estruturas; critica Marina Silva por adotar, a seu ver, uma visão da Amazônia baseada em “extrativismo primitivo e artesanal”; contesta a eficácia de políticas sociais compensatórias; defende o sincretismo como principal atributo brasileiro, em contraponto ao identitarismo importado dos EUA; e apresenta quatro eixos de seu projeto para o Brasil.
Filósofo e professor da Universidade Harvard desde 1971, Roberto Mangabeira Unger afirma que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva “parece morar no passado” e ataca o “discurso açucarado” das políticas sociais compensatórias, que apenas “douram a pílula do modelo econômico”.
As críticas são de um intelectual que atuou como ministro em duas gestões petistas. Esteve à frente da Secretaria de Assuntos Estratégicos de 2007 a 2009, no governo Lula. Em maio de 2008, Marina Silva, então ministra do Meio Ambiente (cargo que voltou a ocupar neste ano), deixou a pasta depois de saber que a coordenação do Plano Amazônia Sustentável ficaria com Mangabeira Unger.
Ele retornou ao cargo em 2015, sob a gestão de Dilma Rousseff, mas permaneceu no ministério por apenas sete meses. O carioca de 76 anos atuou como conselheiro de Ciro Gomes nas campanhas presidenciais de 1998, 2002, 2018 e na última, de 2022.
Nesta entrevista à Folha, durante breve passagem por São Paulo, ele voltou a se contrapor a Marina ao criticar a visão do governo federal em relação à Amazônia, baseada em “extrativismo primitivo e artesanal”. Também expôs os quatro eixos principais de um projeto para o Brasil.
Como avalia os primeiros cinco meses do governo Lula?
Primeiro, me permita dizer que é muito importante que o governo Lula dê certo. Todos nós, inclusive críticos do governo Lula, queremos que dê certo. Mas o presidente parece morar no passado, encarando a tarefa atual como continuação dos mandatos anteriores. Está cercado por auxiliares que não dizem “não” a ele, o que é perigoso porque a tarefa agora é muito diferente da tarefa anterior [os dois primeiros mandatos].
Diferente em que sentido?
A desqualificação produtiva do país se aprofundou. Caminharíamos rapidamente para uma grande crise econômica se a situação não fosse atenuada pela riqueza em recursos naturais. Agricultura, pecuária e mineração pagam as contas do consumo urbano e, para o bem e para o mal, evitam que enfrentemos nossos problemas estruturais.
O Brasil é representativo da situação da maioria dos grandes países populosos. Temos uma maioria pobre –se não pobre absolutamente, pobre relativamente. Mas essa maioria, em vez de ter um horizonte proletário, como o marxismo descreveu, tem um horizonte pequeno-burguês. Aspira a uma modesta prosperidade e à independência.
Por falta de opções mais acessíveis, acaba se identificando com essa aspiração do emergente: um pequeno lote de terra, um comércio. Sem escala, sem tecnologia, dependente da autoexploração (são pessoas que trabalham intensamente) e do financiamento familiar.
É aí que Bolsonaro garantia o núcleo duro de sua base de apoio. A contrapartida moral a essas opções econômicas limitadas é o individualismo, o materialismo, o consumismo, articulados de forma mais explícita pelo movimento evangélico. É uma espécie de liberalismo para as massas, que diverge do que foi a característica predominante da nossa cultura social. Essa cultura costumava combinar nas mesmas relações sociais a troca, a prepotência e o afeto. Poderia se descrever como a sentimentalização das trocas desiguais.
Esse movimento dissolve esse amálgama, atribuindo a troca ao mercado, o poder à política, e a afeição à família. Essa tem sido uma forma como as sociedades modernas se libertam. Ao se libertarem, tornam-se frias, e o Brasil não quer isso, quer encontrar um jeito de ser livre e caloroso ao mesmo tempo.
É esta a situação: nós temos essa nova base dos emergentes. Objetivamente, não são uma pequena burguesia, a grande maioria deles são pobres. Mas, subjetivamente, eles já assimilaram essa cultura da iniciativa.
E o governo Lula continua a tratar o Brasil como se fosse apenas um país de pobres, precisando de transferências de ajuda para atenuar a miséria, mas o Brasil agora é muito mais do que isso. Mesmo quando pobre, os brasileiros querem ser abordados como agentes a empoderar, não só como beneficiários a cooptar.
A grande tarefa dos progressistas seria abordar essa nova maioria popular e lhe oferecer alternativas. Na economia, envolvê-la numa nova dinâmica de produtividade. Além disso, multiplicar formas de ação coletiva para tornar esse movimento mais magnânimo e solidário, sem abandoná-los ao egoísmo familiar materialista. Essa é uma visão geral da situação.
Essa realidade social não produziria automaticamente o milagre de crescimento se não for combinada com uma cisão dentro das elites, que foi necessária em todos os episódios de milagre econômico da história moderna. A única exceção talvez seja a Inglaterra no século 18, mas todas foram assim a partir dos EUA no início do século 19.
Essa cisão envolvia sempre uma ruptura dentro da elite endinheirada, entre o rentismo financeiro e o produtivismo, com a formação de uma contraelite que associava o produtivismo ao nacionalismo e que apelava para a maioria popular.
A arrancada de desenvolvimento do Brasil teria essa base popular que eu descrevi, mas que não pode atuar sozinha numa sociedade de classes. Precisa de uma aliada de elite, com essas características: produtivista e nacionalista. A base existe, o que não existe ainda é o projeto.
| Os 4 eixos principais do projeto de Mangabeira Unger 1 – Desenvolvimento pautado por uma escalada de produtividade includente da economia do conhecimento 2 – Construção de um paradigma econômico e social que case a inteligência com a natureza 3 – Modelo produtivo pensado para as particularidades regionais, com decisões descentralizadas e não impostas por Brasília 4 – Transformação radical da educação, com a substituição de um enciclopedismo raso por uma visão analítica, sobretudo no ensino médio |
O que o governo deveria fazer para contemplar essa base?
Vamos começar com alguns grandes temas, os eixos do que seria esse projeto. Primeiro, um novo modelo de desenvolvimento pautado por uma escalada de produtividade includente da chamada economia do conhecimento.
O mundo vive aflito com um novo dilema: até o final do século 20, a economia do desenvolvimento pregava que havia um atalho para o crescimento, que era tirar gente dos setores menos produtivos e colocar as pessoas e os recursos nas áreas mais produtivas. Na prática, tirar da agricultura e colocar na indústria. Esses atalhos estão deixando de funcionar. Um país depois do outro está se desindustrializando, e o Brasil é um dos que se desindustrializam de forma mais radical.
Tudo a ler
Qual é a alternativa? A nova vanguarda produtiva, que chamamos de economia do conhecimento, densa em tecnologia e práticas científicas, e vocacionada para um experimentalismo produtivo permanente. O problema é o seguinte: onde essa vanguarda existe, ela aparece apenas em forma insular, com uma série de franjas excludentes.
O resultado dessa natureza excludente do novo vanguardismo é, de um lado, a estagnação econômica e, do outro, o aprofundamento da desigualdade econômica, radicada no abismo que se vai aprofundando entre as vanguardas e as retaguardas produtivas.
As políticas compensatórias, com gasto social redistribuidor, são incapazes de lidar com essa realidade, apenas atenuam o problema. A desigualdade ancorada em segmentação hierárquica do sistema produtivo só pode ser superada nas suas causas diminuindo o fosso entre as vanguardas e as retaguardas. Esse é o dilema a ser quebrado não só no Brasil, mas em todo o mundo. Como é ter uma economia do conhecimento para muitos?
Poderia falar mais sobre a economia do conhecimento?
Não é apenas o Vale do Silício. As plataformas oligopolizadas, com as quais costuma ser associada, são uma anomalia por várias razões. A economia do conhecimento é multissetorial – existe, inclusive, nos serviços. A agricultura científica ou de precisão também é terreno para ela.
Mas ela não se difunde para toda a economia. Faz o oposto, vai se isolando num círculo cada vez menor. As elites empresariais e tecnológicas, que controlam a economia do conhecimento, encontraram uma maneira de dividir o processo em duas partes: uma lucrativa e criativa, que mantêm para si mesmas, e outra rotineira, na qual subcontratam empresas e trabalhadores em outras partes do mundo, como o interior da China.
Acontece que o Brasil é um dos únicos países com muitas das ferramentas necessárias para construir uma economia do conhecimento includente, como o Senai, o Senac, os bancos públicos de desenvolvimento. O Sebrae poderia tomar as tecnologias, como a inteligência artificial, transformá-las e simplificá-las para que estejam ao alcance das pequenas e médias empresas e dos agentes econômicos da imensa retaguarda brasileira. Temos as ferramentas mas, paradoxalmente, não temos o projeto.
Um exemplo: o Brasil é um dos grandes celeiros do mundo, e a nossa maior fronteira agrícola, além do Matopiba [Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia], é o Centro-oeste. Veja o Mato Grosso. Quase toda a produção agrícola do estado ocorre em menos de 15% de seu território. O que é o resto? O que não é floresta é pastagem degradada pelo efeito cumulativo da pecuária extensiva. No Brasil, para cada 1 hectare cultivado, há 4 ou 5 entregues à pecuária extensiva.
Se recuperássemos essas pastagens (o custo é baixo), poderíamos transformá-las em novo paradigma da agropecuária, com intensificação da pecuária, manejo florestal sustentável, diversificação de lavouras perenes e industrialização progressiva dos produtos agropecuários. Isto é, o comércio da economia do conhecimento na agricultura e na pecuária. Esta me parece a primeira grande tarefa.
A segunda tarefa é construir um paradigma produtivo que case a inteligência com a natureza em vez de usar a natureza como um pretexto para não empregar inteligência. Veja o nosso comércio com a China. Colocamos nos navios soja pouco transformada e minério de ferro não transformado. Mandamos para lá e, de volta, recebemos produtos da inteligência humana. Péssimo negócio para o Brasil.
Um caso muito exemplar desse casamento da inteligência com a natureza é a Amazônia. O que é o desenvolvimento sustentável? Ou é um extrativismo primitivo e artesanal, como a ministra Marina Silva propõe em nome do governo, ou é uma variante da economia do conhecimento. São os dois extremos, não é? E o segundo, a economia do conhecimento, tem como premissa a regularização fundiária, o ordenamento territorial e o zoneamento econômico e ecológico.
É impossível ter um projeto de desenvolvimento sustentável em um caos fundiário. Há uma pequena minoria das propriedades em mãos privadas (sem título jurídico, claro) e o resto é uma bagunça total.
Qual projeto para a Amazônia o senhor defende?
Um projeto que tenha como condição a regularização fundiária e que tenha como horizonte a mobilização do vínculo do complexo verde com o complexo industrial urbano.
Podemos preservar a Zona Franca de Manaus, mas não apenas para produzir o que pode ser feito na China, como montar motocicletas, algo que não tem nada a ver com a Amazônia. É preciso mobilizar a biodiversidade da Amazônia, com ajuda dos cientistas e das empresas.
Quase toda a tecnologia florestal do mundo evoluiu para manejar florestas temperadas homogêneas, e não tropicais heterogêneas. Teríamos que criar essa filosofia florestal. Isso é o que chamo de casamento da inteligência com a natureza.
O terceiro eixo: tudo isso que eu falei só vai se tornar efetivo no Brasil quando tocar o chão da realidade regional. Precisamos de um novo modelo orientado para todas as regiões do país, não só para o Nordeste, que foi vítima da política regional tradicional brasileira.
Uma política que não tenha como objetivo prover compensações para o atraso relativo, mas prover equipamentos para as vanguardas emergentes em cada região. E que seja construída pelas próprias regiões, não imposta por Brasília.
E o quarto eixo é uma transformação radical da educação brasileira, com a substituição de um enciclopedismo raso por uma visão analítica, sobretudo no ensino médio, que é o ponto de estrangulamento da nossa educação. Precisamos de um novo ensino técnico que, em vez de priorizar competências rígidas e profissões tradicionais, focalize as capacitações conceituais flexíveis. É claro que isso exige muitos avanços nas políticas públicas.
Podemos construir no Brasil um ensino básico mais profundo do que o universitário, imunizando nossa juventude contra as ortodoxias da cultura universitária e seu servilismo intelectual. Considerando que o principal atributo da nossa cultura é o sincretismo, uma grande anarquia criadora. Em vez de suprimi-la ou colocar uma camisa de força nela, deveríamos turbiná-la.
No começo da entrevista, o sr. disse que o governo dá demonstrações de viver no passado. Por quê?
Primeiro, imagina que a economia possa crescer só pelo lado da demanda, do consumo. A promoção da economia dessa forma só pode ser feita com gastança ou com crédito. Por outro lado, a promoção da economia pelo lado da oferta exige inovação institucional, uma tarefa muito mais exigente.
Nosso problema maior não está no lado da demanda, mas no da oferta; não no lado do consumo, mas no da produção. Daí a ênfase anterior no impulso produtivista como uma das características necessárias para se contrapor ao rentismo financeiro.
Aí vem o debate sobre o financismo fiscalista, que também pauta o governo. Essa discussão está mal posta no Brasil. A tese pseudo-ortodoxa é que nós precisamos de responsabilidade fiscal para ganhar a confiança financeira, que traria o investimento, que, por sua vez, traria o crescimento.
Na verdade, nós precisamos, sim, de responsabilidade fiscal para que o Brasil não tenha que se ajoelhar diante dos interesses financeiros. E que possa ousar na construção de um projeto rebelde de desenvolvimento, como esse que eu acabo de esboçar. Então precisamos desse escudo fiscal, de muitas reservas, para ter margem de manobra.
Precisamos de responsabilidade fiscal não pela razão que se imagina, mas pela razão oposta. A afirmação da soberania nacional da rebeldia é mais importante do que o manejo contracíclico da economia. Na história, a rebeldia nem sempre é premiada, mas a obediência, invariavelmente, é castigada.
Estou longe de adotar a China como modelo, mas, entre os países contemporâneos, é o único que violou todos os preconceitos financistas. A obediência diante do altar das finanças só é necessária e conveniente no início do processo. A médio prazo, a única coisa que conta é a realidade.
Apesar de ter violado todos esses preceitos, a China é o lugar com mais dinamismo, mais oportunidades de lucro e é, de longe, o que recebe mais investimentos diretos no mundo hoje. É o exemplo que deveríamos seguir.
O sr. tem falado muito sobre o pobrismo em seus textos mais recentes.
Sim. Temos tido no Brasil uma combinação de três elementos. O primeiro é o financismo fiscalista. No Brasil, quem malogra como produtor pode continuar a prosperar como rentista, e o governo flerta com o mercado financeiro, provoca, depois acomoda.
O segundo elemento é o pobrismo. Nesse contexto, o que resta é dourar a pílula do modelo econômico com esse discurso açucarado das compensações [para os mais pobres], que não conseguiu resolver os problemas. Bolsonaro aprofundou o rentismo financeiro e repetiu o pobrismo que vinha do Fernando Henrique e do Lula, dobrando a aposta.
O terceiro elemento nesse consenso desastroso é o deslocamento dos problemas reais para o teatro do simbólico por meio da política identitária e das guerras culturais. É algo que separa os atributos das minorias das questões de classe e, portanto, de estrutura e desperdiça a grande vantagem do Brasil, que é esse sincretismo, essa mistura de tudo com tudo.
Introduz entre nós algo alheio ao Brasil, que são esses contrastes cristalinos – entre preto e branco, entre mulher e homem. Não precisamos adotar a engenharia verbal e a política identitária dos americanos.
O sr. foi conselheiro do Ciro Gomes nas últimas campanhas presidenciais. Tem falado com ele?
Claro, é um amigo muito próximo. Passou agora um mês e meio comigo em Cambridge [onde fica a Universidade Harvard]. Mas agora não estou falando pelo Ciro, ele fala por si mesmo.
Vou começar a procurar também as lideranças de direita. Estive com o MBL [Movimento Brasil Livre] e depois, quando voltar ao Brasil, vou a Brasília para conversar com outros políticos. Quero falar com todos porque essa taxonomia de direita e esquerda no Brasil perdeu o seu sentido. O PT é esquerda? O PT é o açúcar.
Como assim? Sendo a sociedade brasileira desigual e cruel, atenuar as desigualdades sem criar comoção, sem sacudir as estruturas. Eles [PT] são o tipo de progressista que o New York Times gosta, progressista que não sacode o barco, que ganha títulos honoris causa. Deveríamos procurar outra coisa.