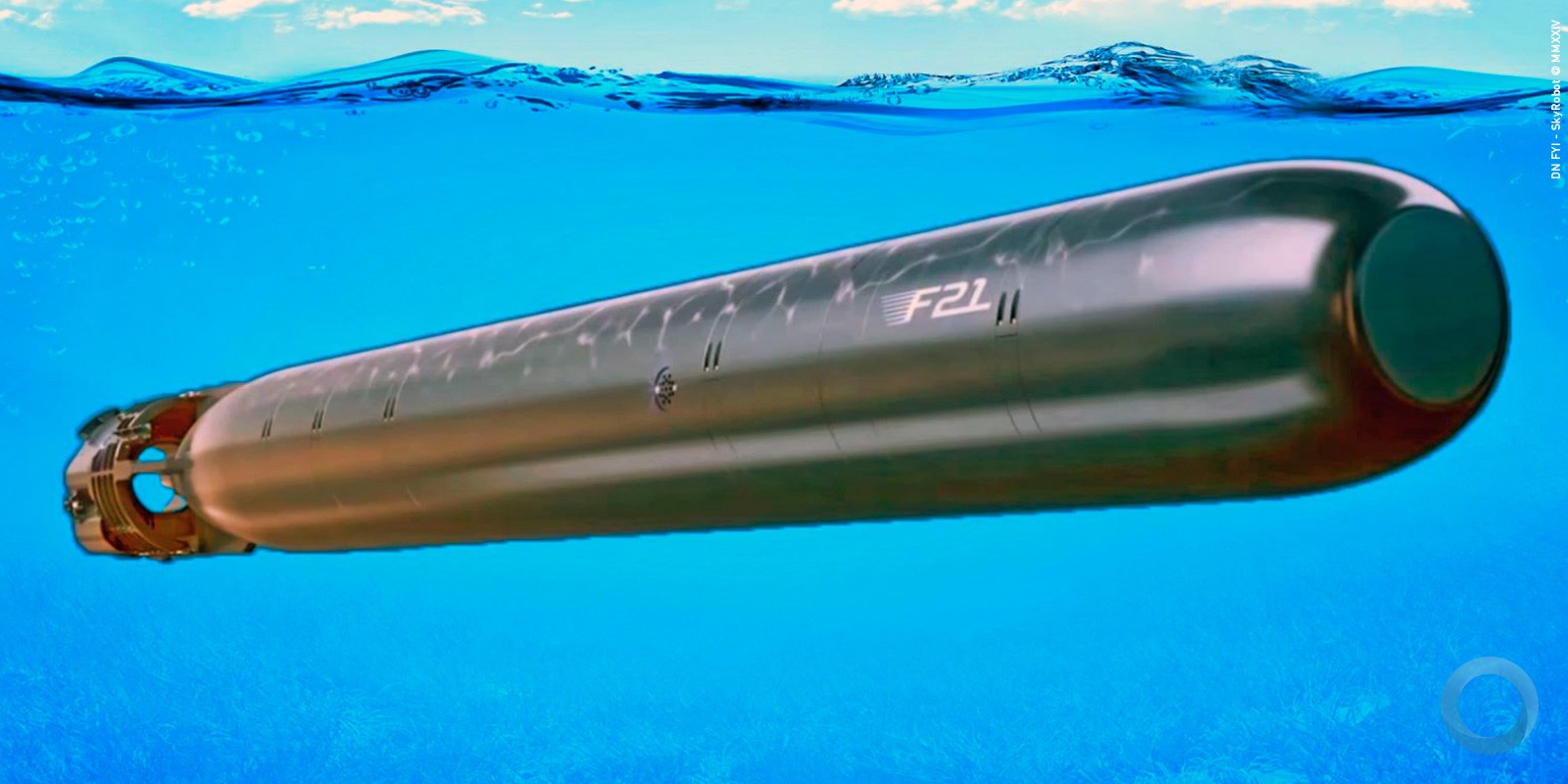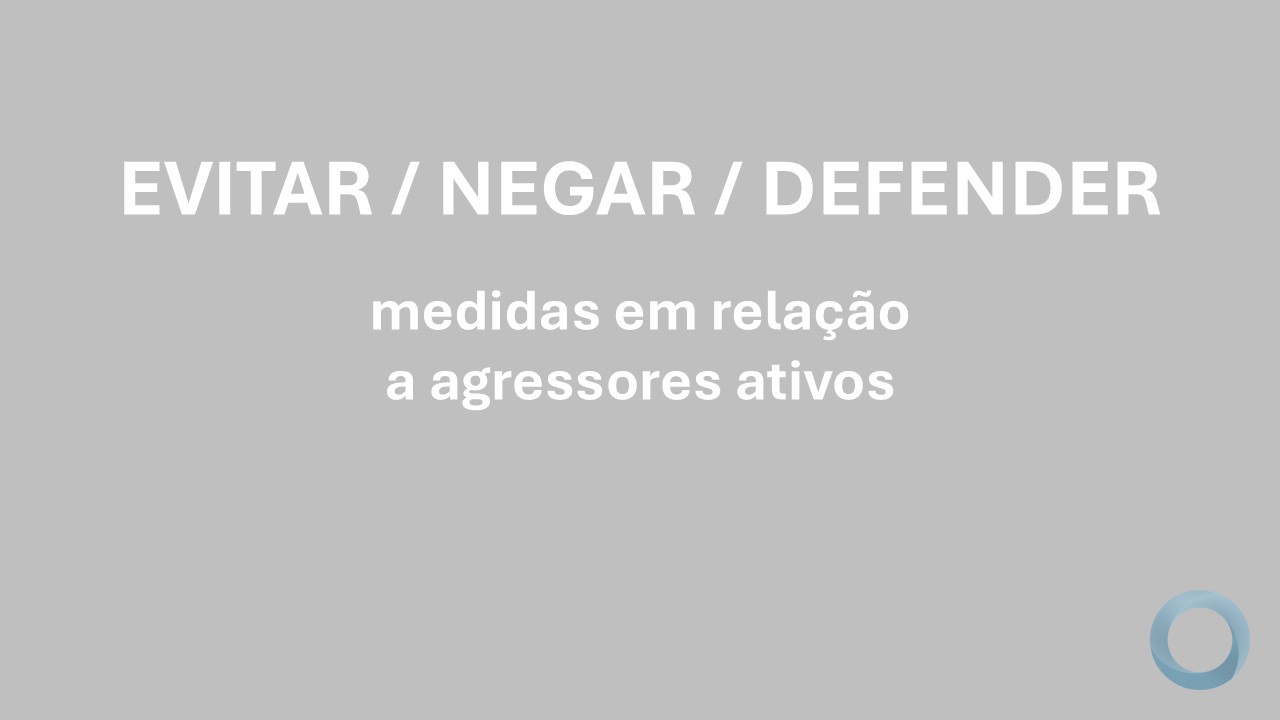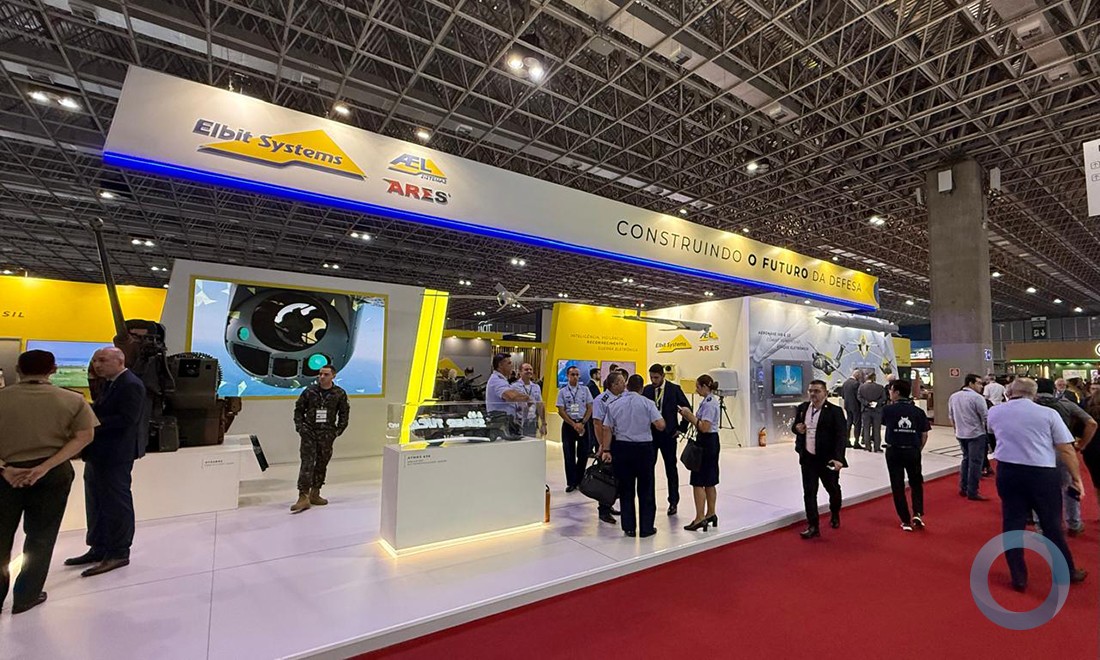Por Robert Farley – Texto do The Diplomat
Tradução, adaptação e edição – Nicholle Murmel
No começo deste mês, eu participei de um painel patrocinado pela America’s Strength, uma organização associada à Liga Naval, e que defende mais investimentos na Marinha americana. O painel foi promovido para discutir o “vácuo de porta-aviões” no Oriente Médio. Ainda em julho, o USS Theodore Roosevelt (CVN-71) deixará sua posição no Oceano Índico para um ciclo de reparos e reforma.
A partida do navio deixará todas as operações de combate ao Estado Islâmico empreendidas pela US Navy basicamente a cargo do grupo liderado pelo navio anfíbio USS Essex. O navio de assalto com 45 mil toneladas de deslocamento é capaz de lançar aeronaves Harrier de decolagem vertical, mas não chega nem perto do volume de missões que um porta-aviões nuclear classe Nimitz consegue gerenciar.
O painel conseguiu chamar atenção para vários problemas que, recentemente, se tornaram centrais no pensamento naval. Os Estados Unidos operam atualmente dez porta-aviões ncleares, mas apenas três deles estão a postos a qualquer momento – o restante está em algum estágio de reparos, reaparelhamento ou reforma. Em caso de emergência, a Marinha pode recolocar a maioria deles de volta em serviço, mas com consequências severas para as embarcações e suas tripulações. E se essa lógica se aplica aos porta-aviões, também serve para o resto da frota, que também sofre dos mesmos problemas de excesso de uso.
É claro que a Operação Inherent Resolve não demanda participação de um navio-aeródromo nuclear. Os EUA têm com acesso a várias bases em terra por toda a região, e podem contar, ao menos temporariamente, com o USS Essex, além de o país fazer parte de uma coalizão de nações lançando ataques aéreos (Washington sendo, de longe, o maior parceiro na coalizão, verdade seja dita). Sendo assim, não se sabe ao certo se a partida do Roosevelt e seu grupo de ataque realmente deixará um “vácuo” na capacidade operacional americana no oriente Médio, no sentido de que os EUA sofrerão com falta de acesso a dados de inteligência, redução da capacidade de comando e controle, ou terão menos bombas para jogar nos militantes do Estado Islâmico.
Após o painel, um dos presents perguntou: “podemos pleitear um décimo-segundo porta-aviões?” Como os participantes do debate apontara, a resposta é, logico, que sim. A única questão é onde e do que os EUA precisarão abrir mão para manter esse décimo-segundo navio em serviço.
E isso leva ao extremamente frustrante cerne da questão – o establishment do setor de defesa americano é efetivamente incapaz de escolher entre dipos diferentes de capacidades. A triarquia de serviços nos EUA, que continua a ditar a divisão estável em três partes para os recursos de aquisição, dignifica que o Departamento de Defesa não pode simplesmente barganhar um porta-aviões contra o programa do Bombardeiro de Longo Alcance ou o F-35, nem contra as necessidades de pessoal do Exército. Até que as autoridades do setor de defesa encontrem uma forma de quebrar essa triarquia, continuaremos a dar de cara com obstáculos burocráticos de alocação de recursos.
Ainda assim, não há dúvida de que, se por um lado os Estados Unidos continuam a ter a maior e mais ponderosa Marinha do mundo, por outro, o país ainda não explora totalmente todo esse poder. Organizar e escolher entre os limites dessa força requer incorporá-los não apenas em retórica, mas também no planejamento, processos de aquisição e na estrutura institucional. Se feito da forma correta, esse mapeamento do que a Marinha americana pode ou não fazer mandaria uma mensagem de força e segurança tanto para aliados quanto para rivais.