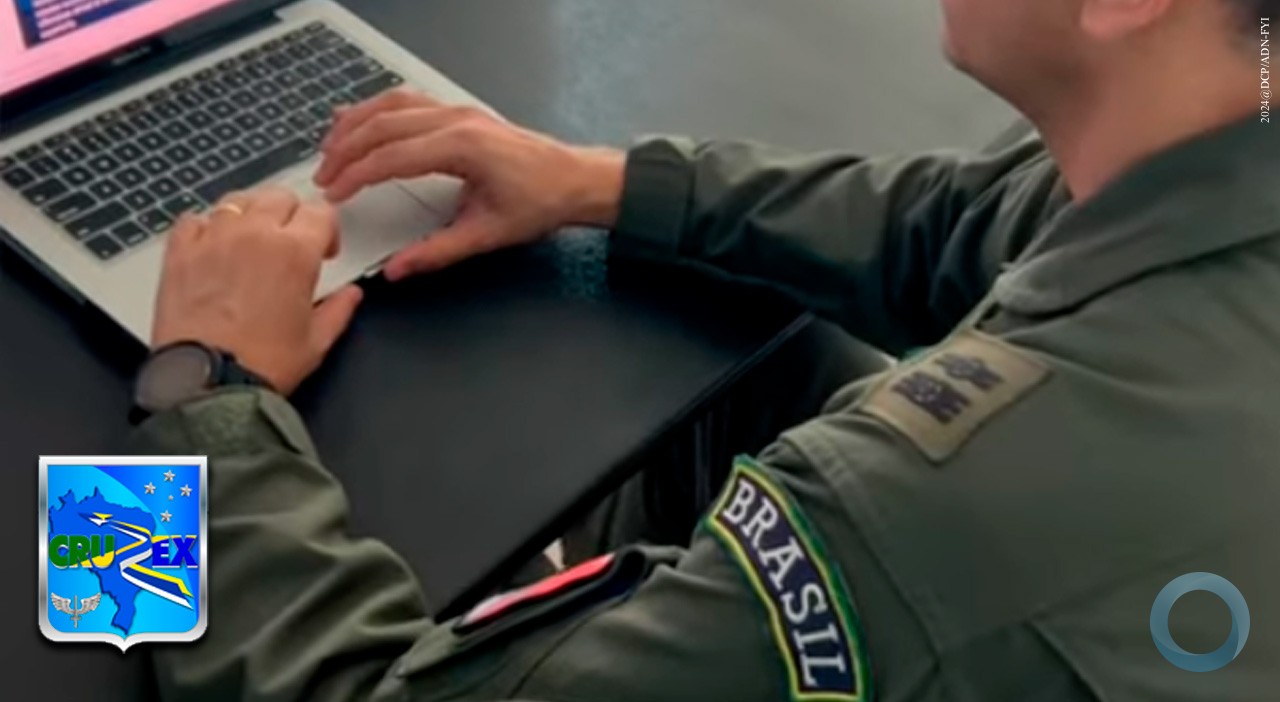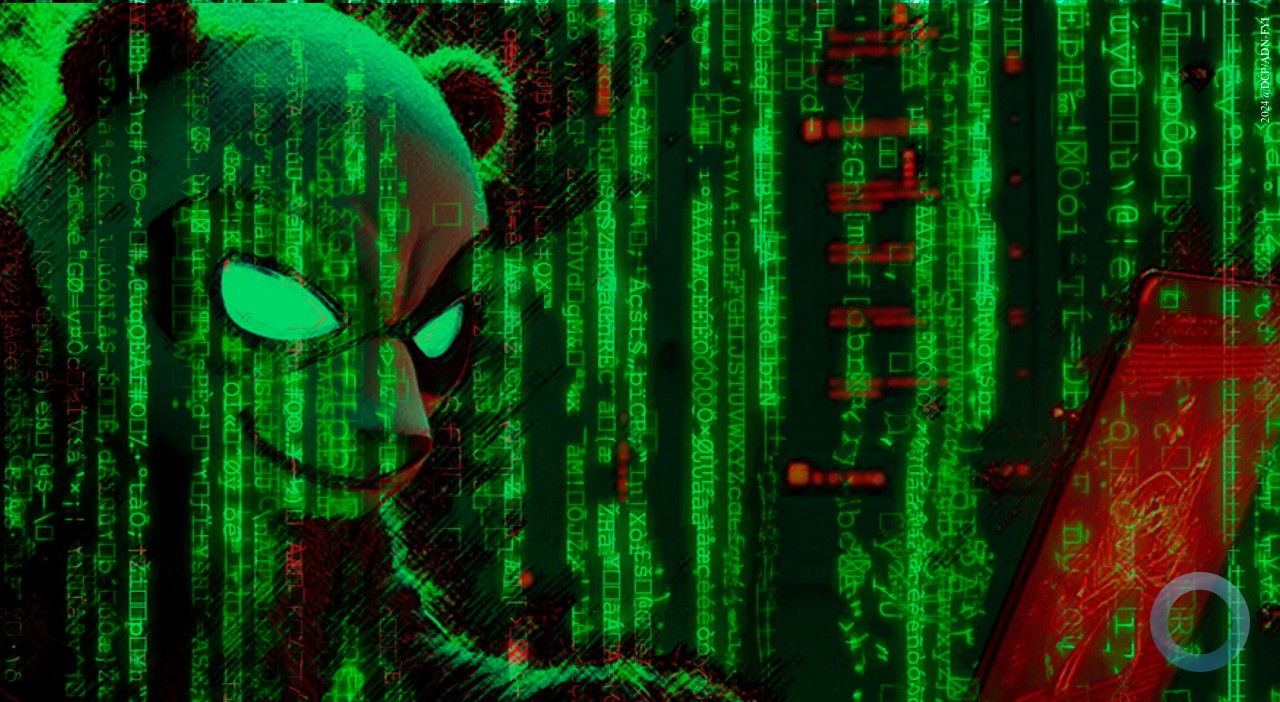Megaviolência organizada e insurgência criminal
Diego Pessi
Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e coautor de “Bandidolatria e Democídio – ensaios sobre garantismo penal e criminalidade no Brasil”.
Brasil Sem Medo
25 de Novembro de 2021
“Bom dia. Eu sou o Dr. Kirkham e esta é (a aula de) Criminologia 447: A Polícia e a Sociedade. Quero começar nossa discussão sobre polícia e sociedade examinando o tópico mais importante – que irá ocupar nossa atenção na maior parte das aulas e leituras. Refiro-me à matéria ‘personalidade policial’. Nós vamos começar nossa análise sobre a personalidade policial considerando algumas das ideias do homem que é comumente reconhecido como um dos principais ‘experts’ do país nessa matéria. (…) Primeiro, vamos considerar os elementos básicos que, segundo o Professor Thorton, compõem a personalidade policial: 1. Autoritarismo; 2. Suspeita crônica; 3. Pessimismo-cinismo; 4 Hostilidade-punitivismo; 5. Insegurança pessoal; 6. Reações físicas de agressividade a estímulos de estresse; 7. Conservadorismo político; 8. Preconceito-racismo”.
Após essa breve introdução, logo em seu primeiro dia como professor-assistente da disciplina de Criminologia numa universidade americana, o Ph.D George Kirkham lançou um repto aos alunos: “A questão que eu gostaria de considerar hoje é esta: Dada a existência da personalidade policial, os agentes policiais tornam-se hostis, autoritários e tudo mais como resultado da natureza do seu trabalho – o estresse ocupacional, em outras palavras – ou eles são basicamente assim pra começar? Alguém tem uma opinião sobre isso?”.
A resposta partiu de um sujeito que parecia um pouco velho para ser estudante e que chamava atenção por exibir uma cicatriz no rosto: “Bem, Professor, eu acredito que aquilo que você chama de personalidade policial, na medida em que exista, tem que ser explicada em função do tipo de coisa que o trabalho de um policial envolve”.
Instigado pela réplica, o Professor Kirkham prosseguiu: “Você não acha, então, que esse trabalho mesmo, naturalmente, atrai um certo tipo de pessoa, alguém que, desde logo, é mais inseguro e hostil do que a média das pessoas?”. “Não, eu não acho”, respondeu o aluno. Vários estudantes da primeira fila da classe haviam se virado em direção ao colega que, de forma tão convicta, sustentava sua posição, quando então Kirkham acrescentou: “Então você sugere que qualquer um que se torne um policial irá automaticamente começar a assumir as características que eu listei no quadro – pouco importando o quão pessoalmente estável e bem educado ele possa ser?”. “Sim, eu acredito que sim”, disse o estudante, “desde que você o designe para um trabalho suficientemente penoso, policiando uma área com altos índices de criminalidade, e o mantenha lá por tempo suficiente. Mesmo o próprio Cristo acabaria mudado!”, arrematou, provocando uma explosão de risos no restante da turma. Enquanto sorria e recolocava seus óculos, o professor observou que, segundo lhe parecia, o aluno era uma espécie de adepto da criminologia ambiental. “Na verdade não, Dr. Kirkham. Eu sou apenas um policial”, foi a resposta.
Assim teve início um relacionamento que, nas palavras do próprio Kirkham, iria mudar sua vida de um modo inimaginável. As divergências de opinião não impediram que entre professor e aluno se estabelecesse uma relação de camaradagem e confiança. Tanto que, pouco antes da conclusão do ano letivo, o policial revelou a Kirkham que muito do que aprendera no curso de criminologia, a seu ver, não passava de besteira. Aquilo que se dizia nas aulas e nos livros era, segundo ele entendia, algo absurdamente abstrato e irreal para quem quer que já tenha testemunhado um crime; algo impossível de ser relacionado com o que efetivamente acontece nas ruas: “Professor, diga-me uma coisa: não lhe parece um pouco estúpido que entre todos os professores dos cursos sobre polícia nesta universidade nenhum seja policial? (…) Eu gostaria de ver um professor de criminologia experimentando ser policial por um momento”, concluiu o aluno, cuja cicatriz no rosto era um emblema indelével dos perigos enfrentados pela polícia no cumprimento do dever.
A história poderia terminar aqui, não fosse pelo fato de Kirkham aceitar o desafio. Por intermédio do aluno, ele se reuniu com o Chefe de Polícia, e, para sua própria estupefação, foi admitido na força policial, sob a condição de cumprir rigorosamente as exigências legais de treinamento. Questionado por Kirkham sobre os motivos que o levavam a concordar com uma empreitada aparentemente tão insana como aceitar um professor universitário entre seus homens, o Chefe confessou que, por mais sentimental que isso pudesse parecer, ele tinha profundo orgulho de seu departamento e dos homens que lá serviam. Disse que certamente o Dr. Kirkham veria alguns maus policiais, homens a quem quais jamais deveria ser permitido usar um distintivo e dos quais ansiava por se livrar (o que, em regra, acabava acontecendo). Por outro lado, esclareceu ele, o professor testemunharia a existência de um número muito maior de bons policiais, homens que seguiam dando seu melhor no trabalho, dia após dia, enfrentando circunstâncias absolutamente adversas. O Chefe lembrou que, há muitos anos, fora estudante na universidade onde o Dr. Kirkham agora lecionava. Naquela época, após patrulhar as ruas durante toda a noite, sentava-se exausto para assistir aos professores deblaterarem sobre o lamentável bando de cretinos que eram os policiais. Envergonhado, temia que algum de seus colegas descobrisse que ele próprio era policial. Desde então, prometera a si mesmo que se algum dia tivesse a chance de mostrar a um desses professores ao menos parte da realidade do seu trabalho, não hesitaria em fazê-lo.
Vencido o período de treinamento, o Dr. Kirkham envergou pela primeira vez seu uniforme policial (distintivo 9027), que incluía itens como algemas, coldre e “um mudo mas indefectível símbolo da violência”, que iria carregar todas as noites durante meses: um revólverSmith and Wesson, calibre 38. Superando a resistência do Chefe de Polícia – que se empenhou vivamente na tentativa de demovê-lo dessa ideia – Kirkham obteve designação atuar no patrulhamento da área designada como “95”, que, nas palavras do Chefe, “era o pior que a cidade tinha a oferecer; um lugar para policiais experientes e não para calouros (mesmo um calouro Ph.D)”.
O professor foi colocado sob a tutela de um policial calejado, com quem aprendeu o significado da expressão “Signal Zero” (utilizada com frequência nas chamadas de rádio da polícia): “É um código utilizado para designar perigo para um policial. Significa que é melhor tomar cuidado, pois você está indo para ‘algo ruim’. Nós também o usamos como pedido de ajuda. Você sabe, ‘policial precisa de assistência urgente’”. “Zero com arma de fogo, zero com facas…”. Kirkham não demorou a se familiarizar com o jargão técnico de sua nova função, como também não tardou a constatar que a complexidade da atividade policial era infinitamente maior do que faziam supor os modelos esquemáticos e caricaturais por ele reproduzidos na bolha asséptica do ambiente acadêmico.
De fato, aqueles obtusos, a quem atribuíra a pecha de agressivos, hostis e inseguros, desincumbiam-se com desenvoltura de tarefas como controlar o tráfego em situações de tensão, prestar socorro a mendigos intoxicados com álcool e arrombar residências infestadas com gás de cozinha para salvar a vida de um suicida já inconsciente. Realizavam partos de emergência no banco traseiro de uma viatura em movimento e até mesmo conduziam de volta ao lar idosos que, perdidos, perambulavam pelas ruas da cidade. A polícia, a quem chamara de racista e preconceituosa, era a mesma que realizara manobras de ressuscitação (com respiração boca a boca) num adolescente negro, vítima de overdose de drogas, ainda que a recompensa ao policial responsável pela façanha (no caso, seu parceiro) fosse ouvir algo como “Fuck you pig! All that kinda shit”, ao visitá-lo no hospital, no dia seguinte.
Kirkham também pôde provar pessoalmente as “reações físicas aos estímulos de estresse”, sentindo o coração disparar, o estômago embrulhado, garganta seca, mãos frias e suadas e, acima de tudo, o desesperado desejo de ser qualquer outra coisa que não um policial, ao receber um chamado de ocorrência de roubo com emprego de arma. Entendeu que a “suspeita crônica”, tal como dissera seu aluno, é algo necessário à sobrevivência dos policiais, quando uma abordagem de rotina, na qual procedeu sem a devida cautela, por muito pouco não lhe custou a vida.
Na primeira vez que foi fisicamente agredido por um suspeito, Kirkham percebeu que, entre todos aqueles que lidam com criminosos, ninguém está tão exposto à violência quanto o policial: “No dia que vesti aquele uniforme azul, perdi o luxo de lidar com os problemas interpessoais sob circunstâncias tranquilas e cuidadosamente controladas”. Enquanto um professor universitário é uma espécie de “sonhador subsidiado”, recompensado pela sociedade para se ocupar com temas abstratos, tangenciado as necessidades do “aqui e agora” – pensou ele – o trabalho de um policial exige atenção permanente aos eventos do mundo real, mesmo em seus detalhes aparentemente insignificantes, pois distrações e devaneios tendem a ser fatais nos ambientes caóticos onde atua a polícia.
A experiência de observador-participante permitiu a Kirkham verificar que, de fato, existiam maus policiais. Mas, para muito além disso, tal como previra o Chefe de Polícia ao admiti-lo entre seus homens, proporcionou-lhe uma perspectiva realista sobre provações que envolvem a missão do policial e a abnegação daqueles que se dispõem a cumpri-la. Seus relatos, aqui parcial e sucintamente resumidos, constam da formidável obra autobiográfica intitulada “Signal Zero”, publicada no ano de 1976. Aclamado pela crítica, o livro tem um de seus pontos mais pungentes na reflexão do autor sobre a justiça. Antes de integrar a força policial, “crime” e “criminoso” não passavam, para Kirkham, de meras abstrações impessoais, hipóteses de comportamento desviante. Agora não mais: o crime era algo pessoal. Ele tinha face. Ele tinha mãos. As mesmas mãos que, por mais de uma vez, ameaçaram tirar-lhe a vida. À súbita consciência da possibilidade de uma morte iminente nas ruas e becos escuros e desoladores do gueto que patrulhava, somava-se a triste certeza de que, tal como certa vez lhe dissera seu parceiro veterano, ninguém dá a mínima para o que acontece com os policiais. Nem a justiça, nem as pessoas a quem eles tentam proteger. Ninguém!
Signal Zero Brazil
O ano é 2021 e as manchetes denunciam o fato de que operações policiais de altíssimo risco tenham resultado na morte de poucos agentes em comparação ao número de delinquentes neutralizados, ou – o que parece ser infinitamente mais grave – que nenhum policial tenha sido morto nesses confrontos. No mesmo tom de indignação com que se imputa à polícia a promoção de “massacres”, de tempos em tempos é brandido um “levantamento inédito”, dando conta do arquivamento da maioria dos inquéritos que apuram as mortes atribuídas à ação policial. Segundo tudo leva a crer, além de não morrerem em quantidade suficiente, os policiais também são presumivelmente culpados. Nem sequer se cogita a possibilidade de que possam agir em legítima defesa ou no estrito cumprimento do dever legal.
Afinal, quantos policiais precisam morrer para que essas operações sejam consideradas satisfatórias no tribunal da grande mídia e dos especialistas de viveiro?
Segundo noticiado, apenas no ano de 2020, cento e noventa e oito policiais foram assassinados no Brasil, o que equivale a uma morte a cada 44 horas (10% a mais do que o número de vítimas do ano anterior[1]), número absurdamente superior ao registrado por outras forças policiais no mundo. De acordo com análise realizada pelo Instituto Monte Castelo, em termos relativos à população (morte por milhão de habitantes), no Brasil “foram assassinados aproximadamente 70% mais policiais do que na Argentina, 6 vezes mais do que nos Estados Unidos, 18 vezes mais do que na França e 60 vezes mais do que no Reino Unido” [2]. Isso nos leva a outra questão: qual a realidade enfrentada pela polícia brasileira?
Comecemos pelo óbvio: os enfrentamentos que resultam na morte de delinquentes, tão estridentemente pranteada pela mídia, ocorrem no contexto do combate à criminalidade organizada violenta, ou, na feliz definição do Professor Carlos Frederico de Oliveira Pereira, no âmbito do enfrentamento à “megaviolência organizada”, que “está além do patamar de gravidade dos crimes hediondos e no mesmo nível de lesões jurídicas como os crimes de guerra e os crimes contra a humanidade”, na medida em que, tal como definido no Estatuto de Roma, implica ataque sistemático contra a população civil.
Nas palavras do mesmo autor, “quando os órgãos de segurança pública não conseguem conter o desafio à ordem jurídica posto pela criminalidade, o problema já não é mais de segurança pública, mas de ameaça à própria organização estatal”. Dito de outro modo: as ações perpetradas por organizações criminosas fortemente armadas, que sistematicamente impõem terror à população civil e praticam atos de extrema violência em face das forças de repressão penal, se traduz num cenário de insurgência criminal que transcende o limiar da segurança pública e ameaça a própria segurança interna do Estado.
Para que se tenha uma ideia da gravidade desse fenômeno, até mesmo o Relatório SOCTA [3] (“Serious and Organized Crime Threat Assessment”) da Europol identifica os níveis de violência associados ao narcotráfico oriundo da América Latina como uma das principais ameaças à segurança da União Europeia (a exemplo dos lucros multibilionários gerados para o crime organizado e dos danos substanciais causados pela droga). No Brasil, habituados que estamos à barbárie e à impunidade, seguimos a tratar como atos de criminalidade convencional o emprego de explosivos, granadas, fuzis e até mesmo de metralhadoras antiaéreas contra nossas forças de segurança. De igual modo, a utilização da população civil como escudo, os atentados contra a vida de agentes estatais – segundo recentemente noticiado, o PCC paga pensão vitalícia aos assassinos do Juiz-Corregedor Antônio José Machado Dias, morto em 2003 [4] –, a tortura, agressão e intimidação sistemática dos moradores de áreas ocupadas por gangues territoriais, os “salves”, “julgamentos” e execuções promovidos por organizações criminosas não são encarados como atos de insurgência criminal, mas colocados no mesmo diapasão da criminalidade de massa.
Muitas dessas práticas, corriqueiras no âmbito da megaviolênca organizada promovida por milícias, narcoguerrilhas e delinquentes do chamado “Novo Cangaço” ou “Domínio das Cidades”, são tipificadas como atos de terrorismo num País infinitamente mais seguro do que o Brasil. Em Portugal, a Lei de Combate ao Terrorismo (Lei n. 52/2003), entre outras sanções, prevê que a simples participação em semelhantes organizações é punível com uma pena de até 15 anos de prisão, dispondo:
“1 – Considera-se grupo, organização ou associação terrorista todo o agrupamento de duas ou mais pessoas que, actuando concertadamente, visem prejudicar a integridade e a independência nacionais, impedir, alterar ou subverter o funcionamento das instituições do Estado previstas na Constituição, forçar a autoridade pública a praticar um acto, a abster-se de o praticar ou a tolerar que se pratique, ou ainda intimidar certas pessoas, grupos de pessoas ou a população em geral, mediante: a) Crime contra a vida, a integridade física ou a liberdade das pessoas (…);c) Crime de produção dolosa de perigo comum, através de incêndio, explosão (…)”.
Longe de ser exagero, a equiparação das práticas das organizações criminosas às de organizações terroristas decorre de uma série de características comuns por ambas partilhadas. Tanto a megaviolência organizada quanto o terrorismo constituem fonte permanente de insegurança social, na medida em que difundem pânico na população por meio de uma brutalidade atroz. Além disso, muito embora não apresentem potencial militar clássico, as ações desses grupos representam um risco que, na lição de Ulrich Beck, impõe ao Estado um “regime de desconhecimento” em relação às três grandezas do cálculo de segurança tradicional (agente, intenção e potencial), operando mediante difusão de um estado antissocial e anti-humano.
Não por acaso, a Estratégia Contraterrorista da União Europeia estabelece as metas de detectar, prevenir, investigar e processar a atuação desses grupos violentos, enfatizando a importância da antecipação da proteção da sociedade. Entre nós, a ausência de uma resposta jurídico-penal adequada à prevenção da megaviolência organizada (eufemisticamente chamada de “proteção deficiente”) sobrecarrega a polícia com a tarefa de defender a população da sanha de delinquentes que, mesmo registrando inúmeros antecedentes criminais pela prática de infrações graves, retornam ao meio social após uma breve passagem pela “porta giratória” de nosso sistema penitenciário (na expressão utilizada por Bruno Carpes).
É nesse ambiente volátil, incerto, complexo e ambíguo que atuam as forças segurança. Treinados para salvar vidas, os policiais contam com sua capacidade de improviso e adaptação, além da superior qualificação tático-operacional para sobreviver ao embate com delinquentes que, não raro, estão em maior número, bem equipados e dispostos a matar. O ativismo abjeto que clama por um maior número de baixas nas fileiras policiais visa precisamente a deslegitimar a ação do Estado no combate à megaviolência organizada, consagrando a inversão de valores, segundo a qual parecem ser os criminosos e não as forças de segurança que estão a agir sob o amparo da lei. Tal ativismo, é claro, possui lastro ideológico e se insere no quadro de uma guerra irregular, dentro da qual, como ensina Alessandro Visacro, a pressão da opinião pública e a imposição de restrições jurídicas são instrumentos de luta tão importantes quanto as armas. O êxito na conquista de corações e mentes para deslegitimação do Estado como garantidor da ordem é atestado por decisões judiciais que restringem a atuação policial em áreas dominadas por gangues territoriais, consolidando a posição dos delinquentes e proporcionando a expansão de seu poder sobre aquelas comunidades que tiranizam e oprimem.
Nesse teatro de horrores, o terceiro ato é justamente a imolação da polícia, ritual catártico utilizado para encobrir a inépcia e o descaso do estamento burocrático no combate às organizações criminosas responsáveis pela nossa condição de país mais violento do mundo. “Ninguém dá a mínima para o que acontece com os policiais. Nem a justiça, nem as pessoas a quem eles tentam proteger. Ninguém!”. Quarenta e cinco anos após a publicação da obra de George Kirkham e a mais de 7.000 quilômetros de distância da América, as palavras de seu parceiro reverberam no Brasil.
Se “Signal Zero” trouxe à luz uma realidade sonegada ao público americano (como observou Walter Lippmann, aquilo que não foi contado não existe), entre nós, depoimentos semelhantes estão disponíveis nos escritos e conferências de Alessandro Visacro, Fábio da Rocha Bastos Cajueiro, Fabrício Oliveira Pereira, Leonardo Novo Oliveira Andrade de Araújo, Eduardo Bettini e muitos outros autores. Seus relatos desnudam a crua realidade do trabalho policial a quem quer que deseje conhecê-la, transcendendo os estereótipos acadêmicos e midiáticos que, como definiu Lippmann, pairam como nuvens de uma tempestade sobre a opinião pública.
George Kirkham sacrificou o conforto de uma carreira acadêmica para se tornar policial, descobrindo nesse trabalho sua vocação.
O que leva alguém a abraçar um ofício de altíssimo risco, baixa remuneração e pouco ou nenhum reconhecimento?
O que leva alguém a arriscar a vida diariamente na defesa de desconhecidos?
O que leva alguém a receber ingratidão e infâmia como paga ao sacrifício?
O que há em comum nessa multidão de heróis anônimos, caro leitor, é a consciência do sentido do dever.
Não de um dever meramente legal, mas do dever na própria acepção homérica, enquanto característica essencial da nobreza, intimamente ligada à honra. Um dever cuja negação constitui a maior tragédia humana. Uma tragédia maior do que a própria morte.
A vocês, policiais, todo meu respeito. Por pouco que signifique, saibam que alguém se importa.
Referências:
Andrade de Araújo, L. (2020). Relatos de Mais um Combatente, uma guerra sem vitória. São Paulo: Ícone Editora.
Beck, U. (2015). Sociedade de Risco Mundial, em busca da segurança perdida. Lisboa: Edições 70.
Bettini, E. (2020).Mamba Negra, o combate ao novo cangaço. Cascavel: Editora Alfacon.
Cajueiro, F. (2021). A guerra urbana no Rio de Janeiro e seus efeitos na Polícia Militar, In Guerra à Polícia, Reflexões sobre a ADPF 635 (pp. 191-218). Londrina: Editora EDA.
Carpes, B. (2021). O Mito do Encarceramento em Massa. Londrina: Editora EDA.
Jaeger, W. (2020). Paideia. A Formação do Homem Grego. São Paulo:Martins Fontes.
Kirkham, G. (1977).Signal Zero. New York: Ballantine Books.
Noelle-Neumann, E. (2017). A Espiral do Silêncio. Opinião pública: nosso tecido social.Florianópolis: Estudos Nacionais.
Oliveira Pereira, C. (2016). Gangues Territoriais e Direito Internacional dos Conflitos Armados. Curitiba: Juruá Editora.
Visacro, A. (2009).Guerra Irregular. Terrorismo, guerrilha e movimentos de resistência ao longo da história. São Paulo: Editora Contexto.
[1]https://g1.globo.com/monitor-da-violencia/noticia/2021/04/22/numero-de-policiais-mortos-cresce-em-2020-o-de-pessoas-mortas-em-confrontos-tem-ligeira-queda-no-brasil.ghtml, acesso em 16 de novembro de 2021.
[2]https://institutomontecastelo.files.wordpress.com/2021/04/relatorio-mortalidade-policial.pdf, acesso em 16 de novembro de 2021.
[3]https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-serious-and-organised-crime-threat-assessment, acesso em 18 de novembro de 2021
[4]https://noticias.uol.com.br/colunas/josmar-jozino/2021/11/18/pcc-paga-ate-hoje-pensao-vitalicia-para-assassinos-de-juiz-corregedor.htm, acesso em 18 de novembro de 2021