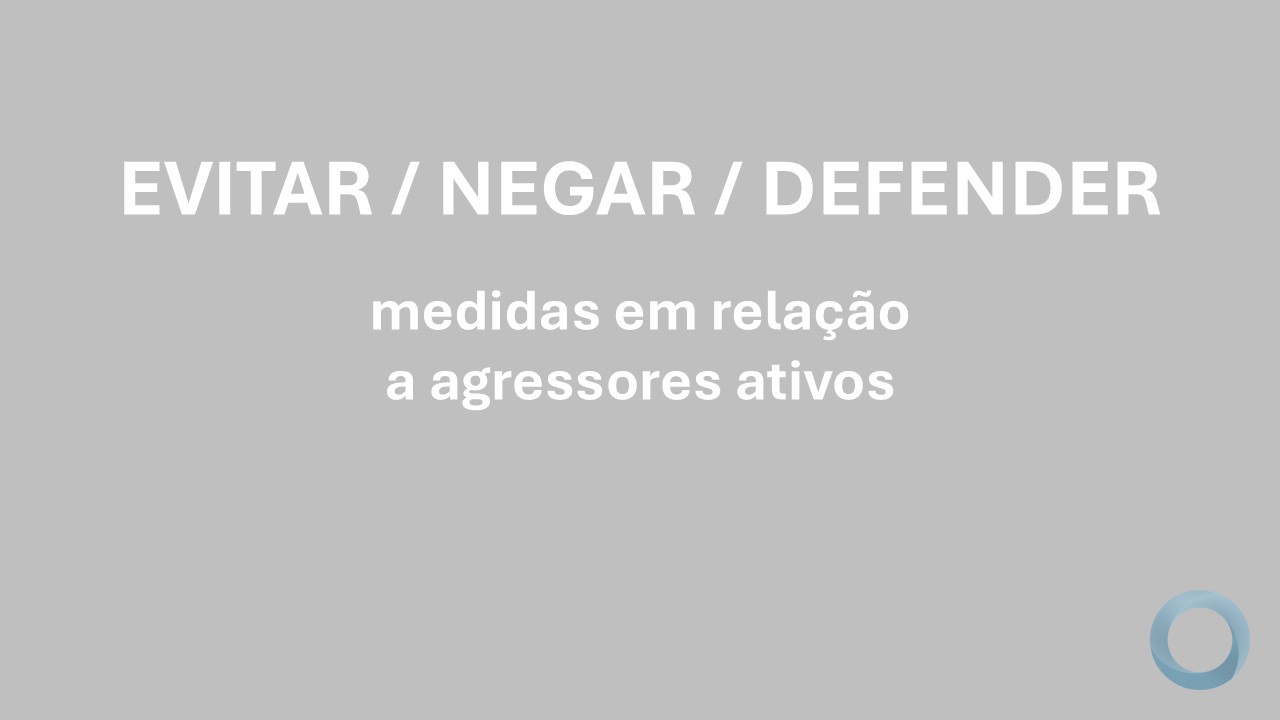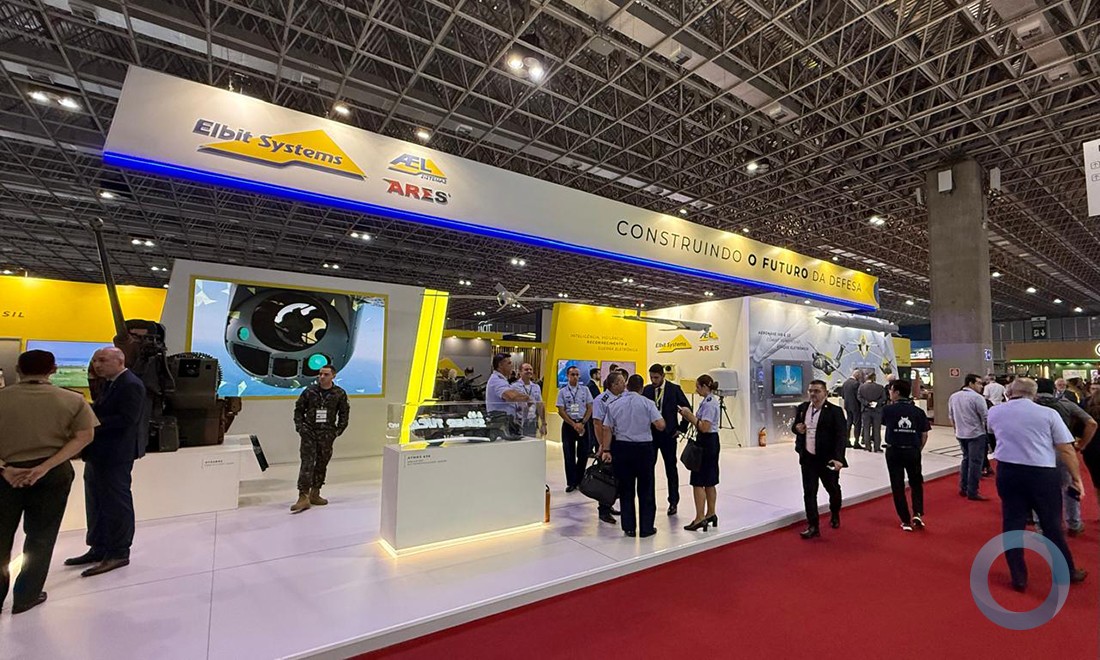Seria prematuro chamar a guerra na Líbia de um completo sucesso para os interesses dos Estados Unidos. Mas a chegada dos rebeldes vitoriosos em Trípoli na semana passada deu aos principais assessores do presidente Barack Obama a chance de reivindicar uma vitória fundamental para a doutrina do presidente americano para o Oriente Médio, que havia sido muito criticada nos últimos meses como uma liderança camuflada.
Funcionários do governo dizem que, embora a intervenção da Otan na Líbia, enfatizando ataques aéreos para proteger os civis, não possa ser aplicada uniformemente em outros locais como por exemplo a Síria, o conflito pode, em alguns aspectos importantes, se tornar um modelo de como os Estados Unidos exercem a força em outros países nos quais seus interesses estão ameaçados.
"Nós resistimos à ideia de uma doutrina, porque não acho que você possa impor um modelo em países muito diferentes – isso leva você a apuros e pode gerar a intervenção em locais que você não precisa dela", disse Ben Rhodes, o diretor de comunicações estratégicas do Conselho de Segurança Nacional.
Mesmo assim, segundo Rhodes, a ação na Líbia ajudou a estabelecer dois princípios para os quais os Estados Unidos poderiam aplicar a força militar para promover seus interesses diplomáticos, embora sua segurança nacional não esteja diretamente ameaçada.
Obama estabeleceu esses princípios em 28 de março, quando fez seu único grande discurso sobre o conflito na Líbia, na Universidade George Washington.
Durante aquele discurso, Obama disse que os Estados Unidos tinham a responsabilidade de parar o que ele caracterizou como um genocídio iminente na cidade líbia de Benghazi (Princípio 1). No entanto, ao mesmo tempo, quando a segurança dos americanos não estiver diretamente ameaçada, mas a ação possa ser justificada – no caso de genocídio, por exemplo – os país vai atuar apenas na condição de que não estão agindo sozinhos (Princípio 2).
E assim, com a Líbia, os Estados Unidos usaram seu poder – fornecendo mísseis de cruzeiro, aviões, bombas, inteligência e até mesmo equipes militares cruciais – mas o fizeram como parte da coalizão da Otan, liderada pelos franceses e britânicos, incluindo nações árabes.
E o fizeram apenas depois de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, autorizando o tipo de abordagem multilateral que era vista com desdém pelo predecessor de Obama, George W. Bush.
Na verdade, de acordo com as autoridades americanas, a estratégia na Líbia funcionou em grande parte por ser percebida como um esforço internacional contra um ditador brutal e "não uma abordagem unicamente dos Estados Unidos", explica um oficial de alto escalão.
"Uma ação ‘Made in EUA’ teria arriscado que a revolta se tornasse Kadafi contra os Estados Unidos", acrescentou o oficial.
Mas qualquer especulação de que o modelo da Líbia possa ser transferível para um outro lugar possível, como a Síria, onde os Estados Unidos e seus aliados europeus pediram que o presidente Bashar Assad deixe o poder, pode ser um pouco precipitada.
Pelo menos por enquanto, o governo americano e seus aliados na ação na Líbia não chegaram a ameaçar o uso da força militar na Síria. Ainda assim, os oficiais argumentam que a criação de pressão diplomática mais ampla – o que a secretária de Estado Hillary Clinton chamou na semana passada de um "coro internacional de condenação" – poderia finalmente ter um efeito e, caso Assad continue sua violenta repressão dos dissidentes, estabeleça as bases para uma ação mais agressiva.
"Quanto disso iremos traduzir para a Síria ainda não se sabe", disse um oficial de alto escalão, citando diferenças entre as muitas nações árabes que enfrentam turbulências. "A oposição síria não quer forças militares estrangeiras, mas quer que mais países cortem o comércio com o regime e rompam com sua política."
Robert Malley, analista chefe para o Oriente Médio e Norte da África no International Crisis Group, disse que uma intervenção militar na Síria poderia apresentar uma série de desafios que os Estados Unidos e seus aliados não enfrentaram contra a Líbia.
"O que distingue a Síria da Líbia é que não há nem consenso regional nem internacional sobre a Síria", disse Malley. "Não há nenhuma área específica do país para entrar e defender. A oposição na Síria não tem qualquer território. E a Síria, em muitos aspectos, poderia retaliar e tornar a vida difícil no país."
Damasco tem aliados que a Líbia e Muamar Kadafi não têm. O Irã e os grupos militantes islâmicos Hamas e Hezbollah são aliados da Síria e capazes de infligir danos aos Estados Unidos e seus interesses – Israel, em particular. Na verdade, a Síria, localizada no coração da tumultuada zona de conflito árabe-israelense, pode causar estragos aos interesses de Israel.
A Síria também compartilha uma fronteira com o Iraque e poderia, se quisesse, procurar maneiras de retaliar contra as tropas e os interesses americanos no país, segundo alguns especialistas em política externa. Além disso, há uma preocupação muito real de que uma Síria sem Assad, cuja família governa o país há mais de 40 anos, não seria funcional, e acabaria envolta no tipo de guerra sectária que caracterizou o Iraque depois que a invasão dos Estados Unido depôs Saddam Hussein.
Até agora, com a possível exceção da Turquia, nenhum outro país tem demonstrado qualquer interesse em uma intervenção militar na Síria, apesar dos relatos da repressão brutal de Assad sobre os que defendem a democracia no país. Mesmo que o governo Obama, ao lado de França, Grã-Bretanha e Alemanha, tenha exigido há uma semana que Assad deixe o poder, não houve nenhuma conversa sobre tentar estabelecer uma zona aérea restrita na Síria, como foi feito na Líbia.
"As pessoas vão ser muito mais cautelosas a respeito da Síria", disse Nader Mousavizadeh, executivo-chefe da consultoria Oxford Analytica. "Há a ambivalência sobre o que é pior, um governo sangrento de Assad ou as consequências sangrentas da derrubada de Assad."
Mas o próprio fato do governo ter se unido com os mesmos aliados da luta contra a Líbia para pedir a partida de Assad e para impor sanções contra seu regime pode levar os Estados Unidos a se aproximar da aplicação do modelo líbio na Síria. Embora a intervenção militar na Síria seja altamente improvável, oficiais do governo dizem que a abordagem coordenada exigindo a saída de Assad e impondo sanções financeiras ao programa do governo sírio demonstra que já estão aplicando a doutrina Obama no país.
E as coisas podem sempre aumentar. "Não há apetite para desencadear uma ação militar na Síria", disse Malley do International Crisis Group. Mas, ele acrescentou: "Se 30 mil pessoas forem mortas lá, a história pode ser diferente."
* Por Helene Cooper e Steven Lee Myers