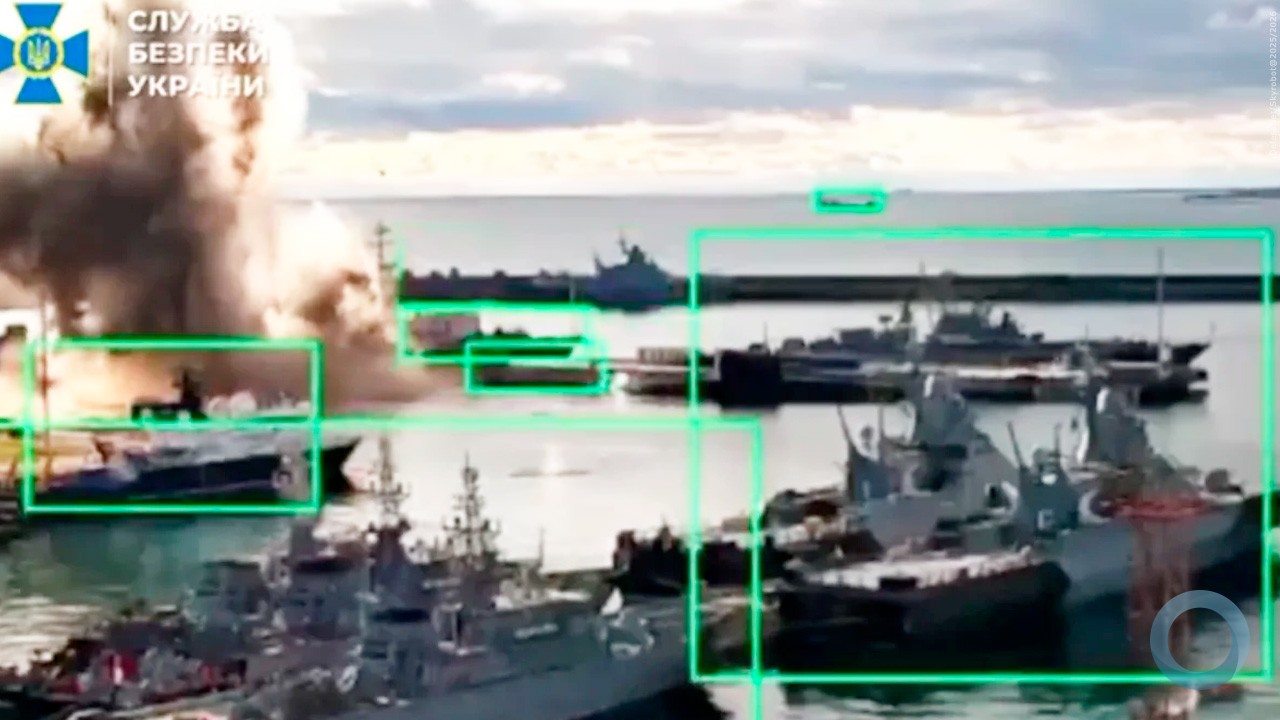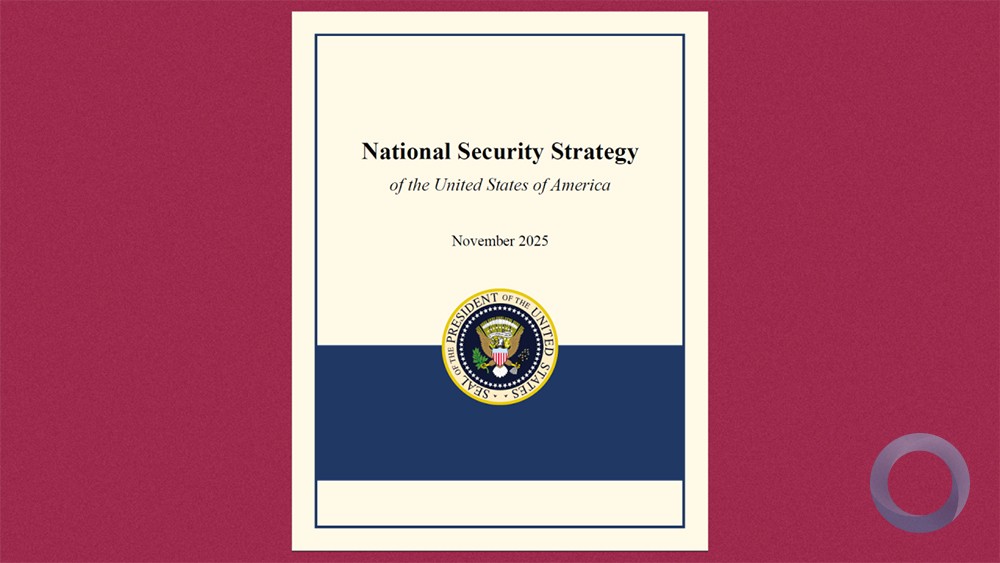Pablo Uchoa
O Brasil deve esperar "continuidade" nas suas relações com os Estados Unidos no segundo mandato do presidente Barack Obama, que começa oficialmente neste domingo, com as tradicionais celebrações na escadaria do prédio do Capitólio e no coração da capital, Washington, marcadas para a segunda-feira.
A principal mudança na equipe de política externa de Obama será a substituição da atual secretária de Estado, Hillary Clinton, pelo senador John Kerry – que ainda precisa ser sabatinado pelos colegas da Comissão de Relações Exteriores, o que só deve ocorrer a partir do fim deste mês.
Até lá, o Departamento de Estado americano evitará comentar as mudanças de equipe ou de estilo que podem vir com o novo chefe. "Queremos que ele seja o primeiro a falar sobre o que fará diferente de Hillary Clinton", foi a linha oficial que um assessor do órgão deu à BBC Brasil.
Hillary Clinton, com estatura suficiente de presidenciável, elevou ainda mais a já alta visibilidade da diplomacia americana. Mesmo assim, não descumpriu a orientação do chefe, de estabelecer uma relação entre os EUA e o mundo menos bélica e menos intervencionista, em contraposição aos dois mandatos do republicano George W. Bush.
A atual secretária de Estado é creditada com as iniciativas da diplomacia para promover a igualdade de gêneros, que muitos analistas acreditam será uma de suas marcas à frente da pasta.
Já John Kerry, creem analistas, pode ser uma figura ainda mais adequada ao perfil de Obama. Ele é visto como menos "político" e mais pragmático que Clinton e, devido à sua menor visibilidade, talvez até mais afeito às negociações de bastidores.
Brasil
Mas não é esperado que uma mudança de "estilo" no Departamento represente grande mudança para as relações Brasil-EUA, "refundadas" pelos presidentes Dilma Rousseff e Barack Obama.
A visita de Obama ao Brasil, em 2011, e de Dilma aos EUA, em abril passado, injetaram uma dinâmica positiva no relacionamento que estava desgastado no final do governo do ex-presidente Lula, em consequência das divergências em relação ao Irã, o golpe em Honduras em 2009 e posições conflitantes em fóruns multilaterais.
Dilma e Obama assinaram 15 acordos bilaterais e criaram – ou elevaram – os chamados diálogos de alto nível, incluindo quatro de nível presidencial, no qual os países debatem desde temas comerciais à política internacional e defesa, de integração energética à educação e o meio ambiente.
Algumas destas iniciativas ficarão sob a batuta de John Kerry, quando ele for confirmado para substituir a secretária Clinton.
No entanto, mesmo os integrantes do governo Obama indicam que o ímpeto das relações Brasil-EUA não parte necessariamente do Departamento de Estado, e sim dos setores comerciais da administração.
Negócios
Os contatos mais vívidos estão nos diálogos de comércio, energia, inovação e nas iniciativas de educação (programas como o Ciência Sem Fronteiras que, de certa forma, também foram pensados do ponto de vista econômico).
À BBC Brasil, o subsecretário americano de Comércio, Francisco Sanchez, disse que os dois países também estão procurando incentivar cada vez mais a participação do setor privado nos diálogos.
Sanchez também destacou o "trabalho de formiga" de harmonizar os padrões e medidas, integrar as cadeias de produção e reduzir barreiras não-tarifárias, que podem surtir efeito a partir de medidas simples.
"Podíamos estar avançando mais rápido na relação", reconheceu, "mas é preciso colocá-la em um contexto. Se considerarmos que o Brasil está seguindo uma trajetória econômica que começou há apenas 18 anos, com Fernando Henrique Cardoso, é uma aproximação que tem pouco tempo", argumentou.
"Como secretária, Clinton reconheceu profundamente que as relações com a América Latina teriam de se dar com base no respeito e em parcerias. Tenho certeza de que Kerry também o fará. Será uma gestão de continuidade e de aperfeiçoamento da relação."
Ausência de ideias
Em sua última visita aos EUA, o ministro das Relações Exteriores, Antonio Patriota, manifestou que o Brasil não está no centro das atenções da diplomacia americana porque a região "oferece mais soluções que problemas". Alguns analistas concordam com esta avaliação.
Mas outros, como Peter Hakim, presidente emérito do Interamerican Dialogue, centro referência em temas latino-americanos na comunidade de intelectuais de Washington, lamentam a distância entre os dois países.
Fosse o Brasil localizado na Europa ou na Ásia, estaria "no centro" das atenções dos EUA, sugeriu Hakim em um evento nesta semana, na sede da entidade. Para ele, a relação Brasil-EUA carece de "ideias" que a elevem a nível mais alto.
Fazendo referência a um artigo que escreveu recentemente na revista do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), o especialista argumentou que "os EUA querem tratar o Brasil como o México, e o Brasil quer que Estados Unidos o tratem como a Índia".
Traduzindo: ele avalia que os americanos desejam pautar a relação com o Brasil pelos negócios, da mesma forma que discutem livre comércio e narcotráfico com o México, mas evitam, por exemplo, temas como imigração e combate ao consumo de drogas em casa.
Já o Brasil preferiria ser tratado como a Índia, país que tem um acordo nuclear com os EUA – apesar de seu passado recalcitrante e armamentista – e cujos líderes recebem recepção de Estado em Washington.
Para Brasília, temas políticos, como um apoio à candidatura a uma cadeira permanente no Conselho de Segurança, são importantes, acredita Hakim.
Mas se houve pouco avanço neles durante a gestão de Hillary Clinton no Departamento de Estado, há poucas razões para crer que será diferente durante o mandato de Kerry.