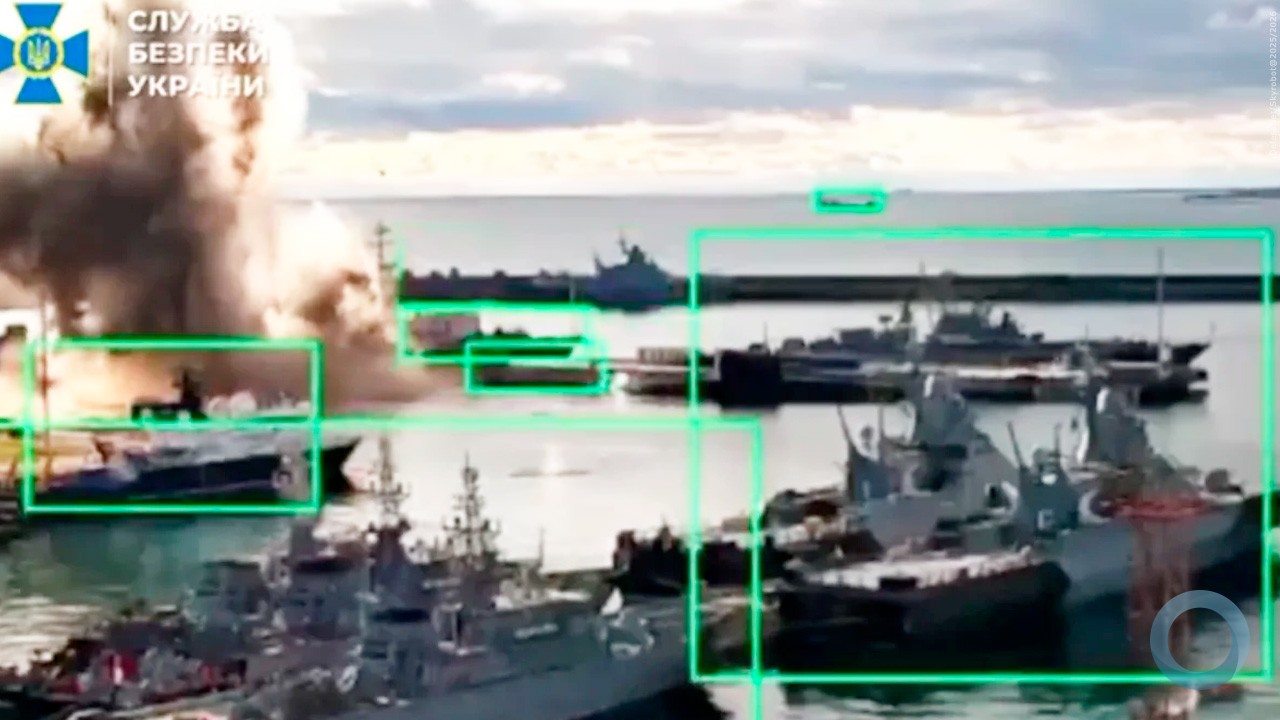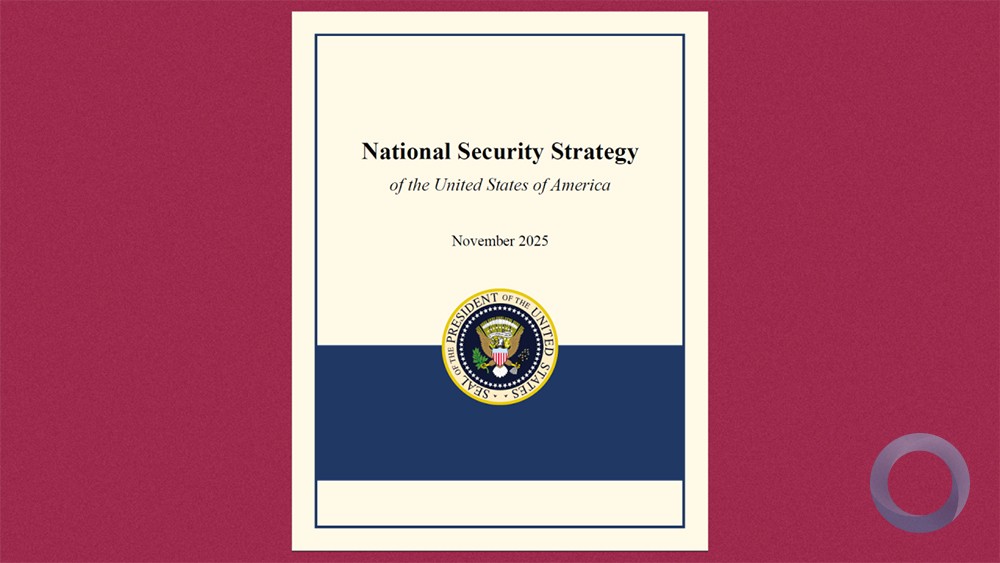FERNANDO ABRUCIO
Desde que se tornaram uma potência hegemônica, os Estados Unidos tiveram um inimigo externo claramente identificado. Assim foi na Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria, no início da década de 1990 – com a primeira Guerra do Golfo – e, mais recentemente, com o 11 de setembro. Todos esses inimigos foram derrotados do ponto de vista geopolítico e militar. Mas agora não há nenhuma nação ou grupo transnacional que seja um alvo fixo e prioritário. Esse vazio ocorre exatamente num momento em que os EUA entram em profunda crise interna. Não há mais como culpar os “de fora” para sair do atoleiro e unificar a nação.
Talvez fosse mais fácil se houvesse algo a se combater. Um grande e odioso inimigo externo poderia ter o papel de acabar com esta enorme radicalização na qual estão inseridos os principais partidos e suas tendências. Uma guerra também poderia movimentar a economia e reduzir a importância da discussão sobre o deficit fiscal. Para não prolongar esse argumento, cabe frisar que ele é baseado em ilusões.
A primeira ilusão diz respeito à possibilidade de mobilizar a sociedade americana e os países aliados em torno de uma guerra. A Europa está atolada em seus problemas e seus cidadãos não aceitariam entrar num combate externo. Mesmo os parceiros historicamente mais frágeis dos EUA não estão propensos a entrar num clima de guerra.
A própria sociedade americana parece cansada de conflitos ou ações para salvar o mundo. Ela almeja algo mais básico: segurança material no presente e no futuro. Vale ressaltar que, pela primeira vez desde o pós-Guerra, a classe média não sabe se seus filhos terão uma vida melhor do que a de seus pais. Não se sabe igualmente se os empregos voltarão aos patamares anteriores. Além de a casa estar bastante desarrumada para se preocupar com “o mundo lá fora”, a população dos EUA não vislumbra quem seria o vilão capaz de substituir Bin Laden ou o comunismo soviético no papel de comandante do Eixo do Mal.
Aqui está a grande novidade: não há inimigos tão paradigmáticos – ou caricatos – a partir do quais se possa montar uma estratégia nacional e de atuação geopolítica. Obviamente que o terrorismo pode, a qualquer instante, produzir atrocidades. No entanto, sua capacidade de se colocar como alternativa aos EUA ou ao Ocidente perde força, quando se constata que a chamada “Primavera árabe” passou longe de tais sectarismos antidemocráticos. Ainda haveria a chance de o Irã colocar-se nesse lugar, especialmente se comprovar seu potencial nuclear. Mas mesmo tal possibilidade, por ora, não mobiliza os Estados Unidos e seu povo em torno de uma nova estratégia geopolítica.
Sobraria a China como inimiga ideal. Afinal, os chineses têm tido um desenvolvimento tão estupendo que é possível que ultrapassem economicamente os EUA nos próximos anos. Mais importante do que isso, a sensação de que os empregos dos americanos estão indo para território chinês seria um alarme bem mais potente para acionar o sentimento de guerra.
Tal maniqueísmo, contudo, dificilmente produzirá os mesmos efeitos dos seus congêneres anteriores. Cabe lembrar que as empresas americanas utilizam-se das vantagens comparativas de estarem na China para ganhar competitividade. Ademais, os chineses, por enquanto, não estão disputando os corações e as mentes do mundo por meio de uma mensagem cultural concorrente do american way of life. Soma-se a tudo isso o ponto mais frágil desse gigante oriental: seus imensos problemas internos impedem a China de almejar, no curto e médio prazo, uma liderança imperial ao estilo dos EUA.
De qualquer modo, mesmo que um dia surja novamente o “inimigo externo ideal”, ressalve-se que isso não está no horizonte imediato dos EUA. Essa novidade histórica deveria servir não como preocupação, mas sim como incentivar a sociedade e a elite americanas a reconstruir o país em suas próprias bases. Se lograrem êxito nessa estratégia, recuperarão terreno para construir um novo tipo de liderança internacional, de qualidade superior ao modelo imperial que prevaleceu no século XX.