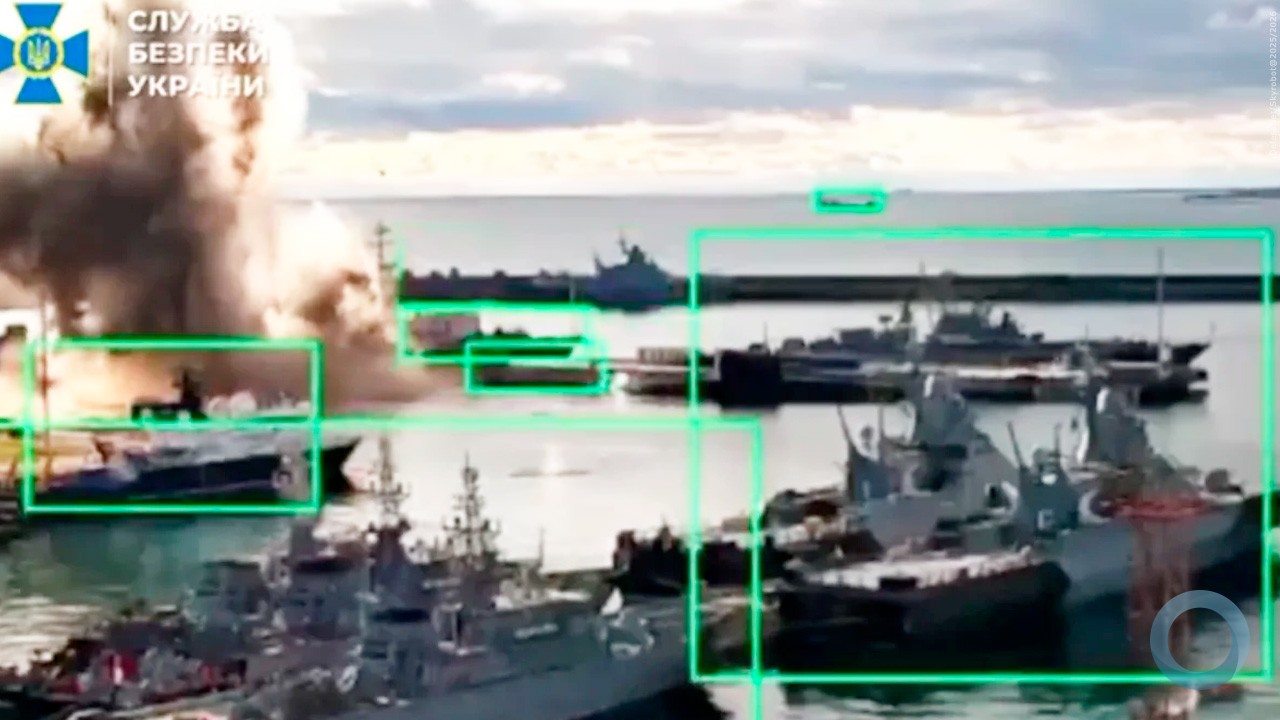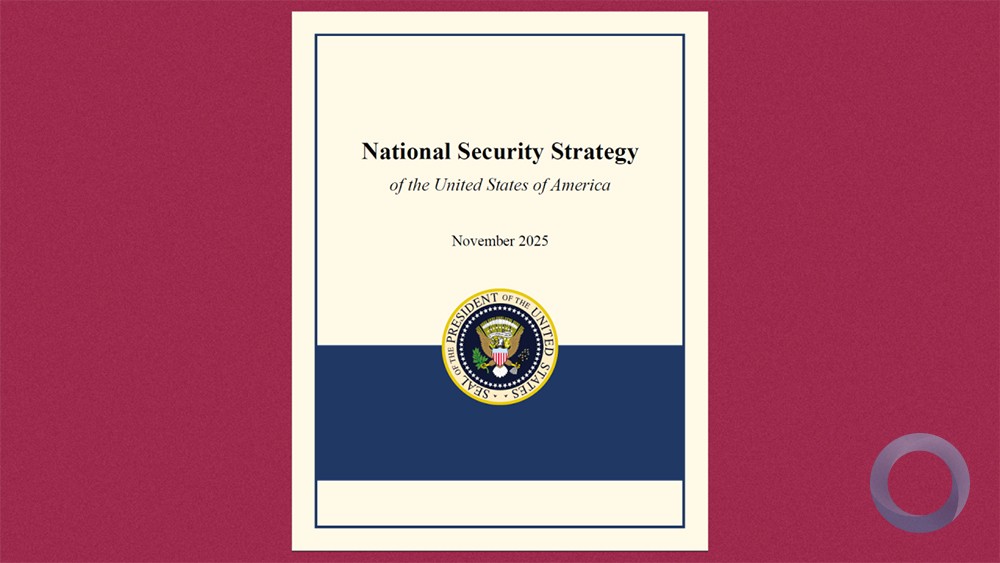Depois de 16 meses e cerca de 15 mil mortes, passou a se chamar "conflito armado não internacional" a insurgência contra o ditador sírio Bashar Assad. É a designação que o Comitê Internacional da Cruz Vermelha adota para dizer que um país está em guerra civil. Isso, explica a entidade, significa que as Convenções de Genebra sobre os direitos humanos em nações conflagradas se aplicam de agora em diante não apenas a localidades específicas, como os redutos da oposição em Homs, Hama e Idlib, mas a qualquer área da Síria onde ocorram hostilidades.
O que, por sua vez, torna o regime de Damasco juridicamente responsável perante a comunidade internacional pelo tratamento que dispensar a civis desarmados em zonas de combate e às forças inimigas capturadas. Legitimado o confronto, atos de violência contra a população e o movimento de insurgência configuram crimes de guerra. É o que as tropas leais a Assad e os serviços de segurança da ditadura vêm cometendo seguidamente.
Em maio, para citar o exemplo até então mais horrendo, o Exército atacou o vilarejo de Hula, abrindo caminho para os esquadrões da morte do regime – as chamadas milícias shabiha (fantasmas) – executarem em suas casas 108 moradores, dos quais 34 mulheres e 49 crianças. Outro massacre teria ocorrido na última quinta-feira no lugarejo de Tremseh, a 20 quilômetros de Hama. Conforme os primeiros relatos, mais de 200 pessoas teriam sido mortas em sete horas de investidas com helicópteros e armas pesadas. O mediador da ONU para a Síria, Kofi Annan, se declarou "chocado e estarrecido".
Pela primeira vez, o governo brasileiro condenou Damasco pelo ataque. Domingo, na segunda inspeção do local, observadores da ONU confirmaram o uso de morteiros e canhões. Mas não acharam provas de matança indiscriminada. Os alvos atingidos abrigariam desertores do Exército e ativistas. Nas contas das autoridades sírias, foram mortos 35 "terroristas" e apenas 2 civis.
Mais do que o endurecimento da Cruz Vermelha, o que decerto tira o sono de Assad é o avanço até Damasco do Exército Livre da Síria (ELS), o braço armado da insurgência – o outro fato novo do conflito. As tropas do governo não conseguem desalojar o inimigo de pelo menos meia dúzia de subúrbios da capital, onde os combates começaram no fim de semana e prosseguiam ontem.
Ressalve-se que em nenhuma dessas áreas o grosso da população pertence à mesma seita alauita do clã Assad e dos seus hierarcas da ditadura. A maioria sunita deve apoiar os soldados do ELS. O som cada vez mais próximo dos disparos, de todo modo, ainda não parece capaz de despertar o tirano para a realidade que se fecha ao seu redor.
Tampouco as primeiras defecções na elite do poder, como a do ex-embaixador sírio no Iraque Nawaf Al-Fares. Ele defendeu uma intervenção militar estrangeira em seu país, argumentando que "o regime só cairá pela força". Embora provavelmente tenha razão, a hipótese permanece tão longe da ordem do dia como sempre esteve: a Síria não é a Líbia.
Nem mesmo a imposição de sanções a Assad consegue vencer a oposição fechada da Rússia no Conselho de Segurança. Moscou, cujo único ponto de apoio no Oriente Médio é a Síria, já abateu dois anteprojetos de resolução nesse sentido. Ainda ontem, o chanceler russo Sergei Lavrov acusou o Ocidente de tentar chantagear o seu governo para que deixe passar uma terceira proposta de resolução, desta vez invocando a cláusula da Carta da ONU em nome da qual se deu a intervenção no conflito líbio.
Do contrário, as potências ocidentais rejeitariam a proposta russa de prorrogar por 90 dias a missão dos 300 observadores do organismo na Síria. Hoje, o ex-secretário Kofi Annan, cujo plano de paz está na UTI, se reunirá no Kremlin com o presidente Vladimir Putin, que tenta disfarçar a sua aliança com Assad com a alegação de se opor à interferência de outras nações nos assuntos internos de um Estado soberano. Na semana passada, membros da oposição síria voltaram de Moscou com as mãos abanando. A tragédia no país continuará a supurar por bastante tempo.