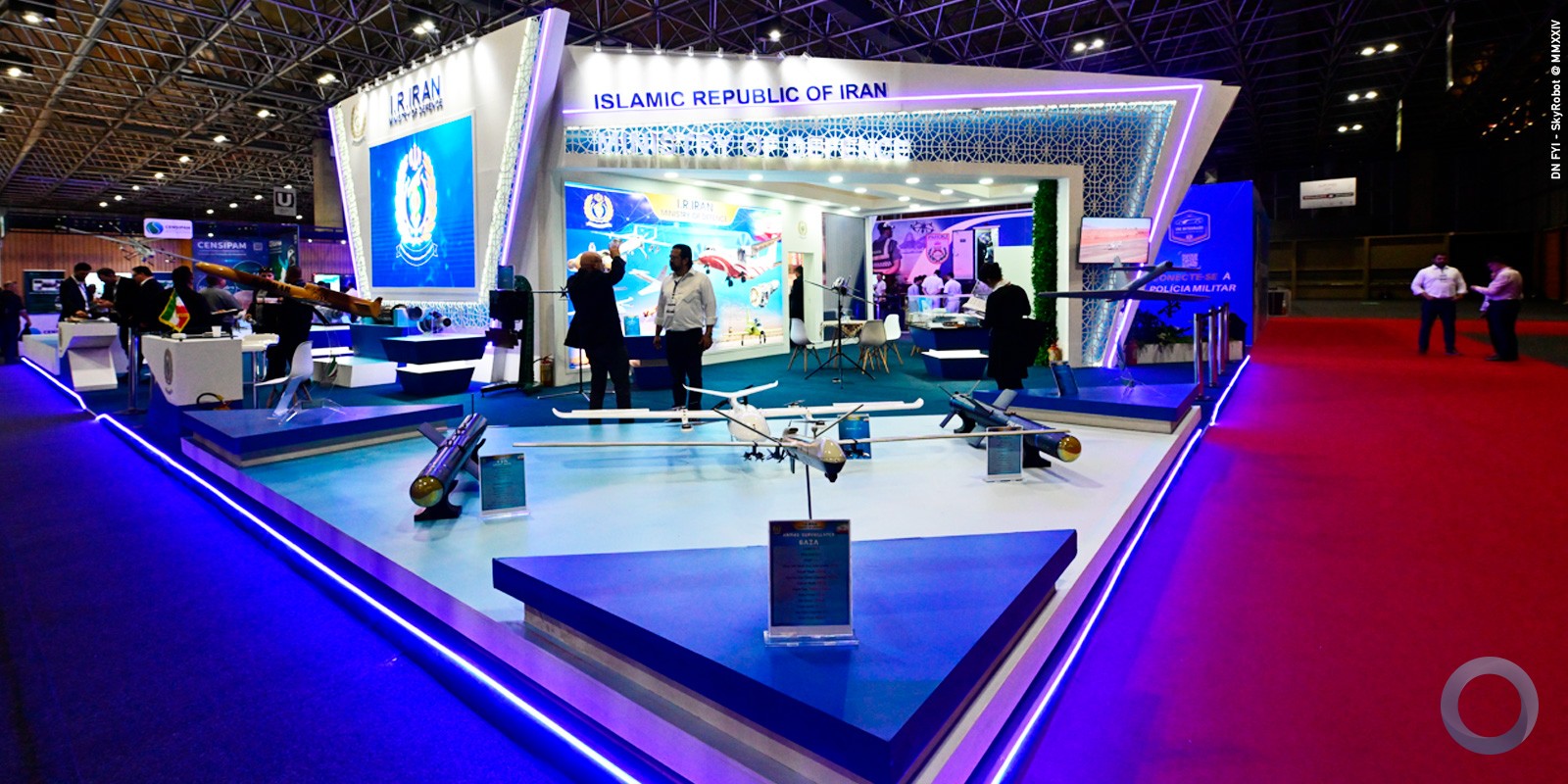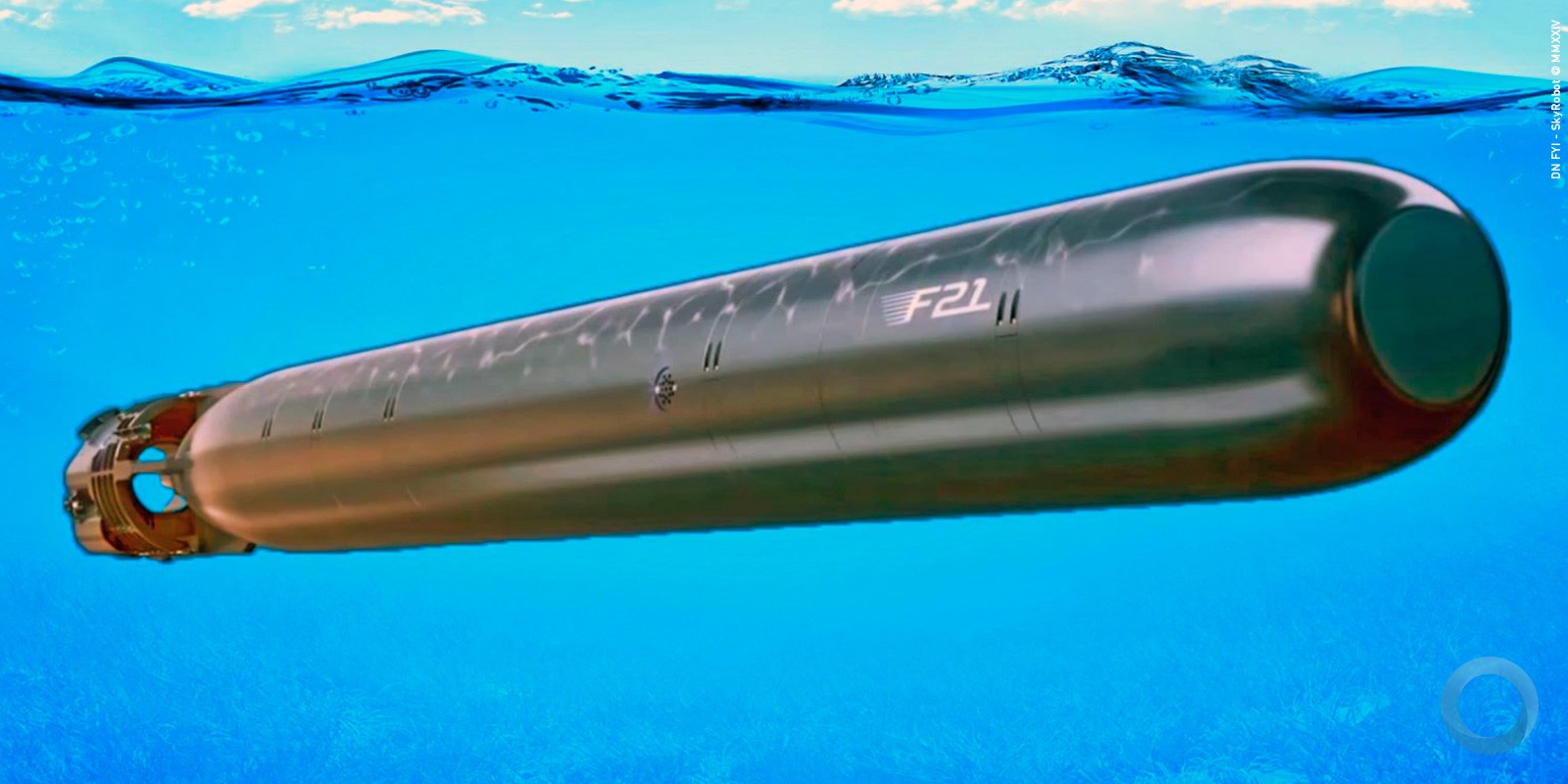Desde o início, o núcleo da agenda de política externa do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, era aplacar as guerras iniciadas por seu antecessor no Afeganistão e no Iraque. É algo que ele prometera a seu povo durante a campanha eleitoral. Com a retirada das últimas tropas do Afeganistão, programada para o fim de 2016, ao deixar o cargo Obama terá cumprido sua promessa.
Mas, para além de dar fim às guerras de George W. Bush, nos mais de cinco anos do presente mandato o democrata tem demonstrado um profundo ceticismo quanto ao emprego de força militar americana em conflitos globais. A melhor forma de resumir essa cautela – seus críticos falam de "relutância" – é o slogan que tem sido atribuído a sua política externa – em especial, sua oposição ao que ele considera as precipitadas campanhas militares dos EUA: "Não faça besteira."
Então, por que Obama decidiu, afinal de contas, agir no Iraque e não na Síria – país em que o conflito entre a oposição e o presidente Bashar al-Assad vem se desenrolando há muito mais tempo e tem custado muito mais vidas, e onde o "Estado Islâmico" (EI) agiu com a mesma brutalidade, tendo também estabelecido um reduto no norte sírio?
Bases legais da intervenção
Um motivo, claro, é que seria contrário aos interesses dos EUA fortalecer o hostil regime de Assad ao confrontar os radicais sunitas do EI, que combatem o governo em Damasco. Mas isso ainda não basta para explicar a decisão de Obama de intervir agora no Iraque.
Uma pré-condição legal importante para uma missão militar americana – especialmente para a administração Obama, com seu posicionamento mais multilateralista – é Washington ter sido oficialmente solicitado por Bagdá a agir no Iraque.
"Deste modo, não há um problema de abuso de soberania", explicou à DW Michael Stephens, vice-diretor da sucursal do think tank britânico Royal United Services Institute (Rusi), no Catar. "Isso torna esse problema particularmente mais fácil."
Sem o convite iraquiano, Washington precisaria de uma resolução da ONU, caso contrário estaria transgredindo o direito internacional.
Quanto aos motivos políticos da intervenção americana, James Jeffrey, embaixador dos EUA no Iraque até 2012 e ex-vice-consultor de segurança nacional de George W. Bush, remete ao discurso de Obama sobre o Iraque, em junho, onde ele esboçou os três pilares de sua política para o país: antiterrorismo e proteção dos cidadãos americanos, fornecimento de ajuda de emergência e apoio contra insurreições.
Todos esses pontos, porém, estavam subordinados à formação de um novo governo iraquiano inclusivo, representativo de xiitas, sunitas e curdos, por cuja defesa as combalidas forças militares do país sentissem que vale a pena lutar, ressalva Jeffrey.
Depois de Obama ter anunciado sua política, tudo pareceu se acalmar e houve uma pausa temporária. Na frente militar, os avanços do "Estado Islâmico" aparentemente perdiam impulso. E na frente política, o primeiro-ministro do Iraque, Nuri al-Maliki, não escutou a mensagem de Obama, de desescalar, preferindo, em vez disso, investir com força.
Gatilho curdo
"Mas de súbito o gatilho foi acionado e, para a surpresa de todos, o alvo eram os curdos", diz Jeffrey. Interesses americanos foram diretamente colocados em jogo quando se anunciou uma vitória dos militantes do EI sobre as defesas dos relativamente bem treinados combatentes curdos, denominados peshmerga. Com isso, Erbil, capital da região curda semiautônoma no norte iraquiano, passou a estar ameaçada.
"Há pessoal americano residindo no Iraque e muitos civis americanos trabalham em Erbil, na indústria petroleira e em outras áreas", relata Michael Stephens, que este ano já esteve oito vezes no Curdistão iraquiano. Basicamente, os extremistas do "Estado Islâmico" ameaçam o grande número de cidadãos dos EUA no Iraque, sobretudo em Erbil, "uma dinâmica que não havia na Síria". "Então, eu acho que há uma diferença qualitativa aqui", avalia o diretor do Rusi.
O setor petroleiro na região curda iraquiana, em si, não representa uma motivação para a iniciativa militar americana. "O petróleo é um pretexto genérico frequentemente usado para explicar eventos no Oriente Médio. Mas não funciona aqui." Stephens acrescenta que a produção petrolífera do Curdistão iraquiano é irrelevante se comparada à da região de Basra. Além disso, os interesses de Washington são menos o petróleo do que de natureza geoestratégica.
Proteção aos yazidis
Quando o front curdo foi rompido com rapidez surpreendente, o curso de ação definiu-se imediatamente para os EUA. Não só havia interesses e vidas americanas em risco, mas, no governo regional curdo, Washington tinha agora um parceiro com quem cooperar na luta contra o EI.
Por fim, num passo que virou a mesa definitivamente na direção de uma intervenção dos Estados Unidos, os militantes sunitas atacaram a minoria religiosa dos yazidi no Iraque. Advertindo contra um possível ato genocida, o governo Obama mobilizou assistência humanitária para os yazidi, seguida por uma ofensiva aérea contra o EI.
"É sempre uma questão de como se define genocídio", comenta Jeffrey. "Porém, uma grande porcentagem dos yazidis remanescentes no mundo foi reunida e enviada para as montanhas, para morrer. Mesmo não se tratando de um grupo grande, isso é mais genocídio do que a maioria das coisas que se denomina assim."
"Se os americanos não tivessem intervindo, eu acho que o que estaríamos vendo seria a quase destruição de uma minoria religiosa e seu total desaparecimento do Oriente Médio", justifica o diretor do think tank britânico em Catar.
Boa política, prática questionável
No geral, os dois especialistas são a favor da política de Obama para o Iraque, mas ambos questionam seriamente em que ela vai resultar, na prática.
Devido à debilidade do Exército iraquiano, Stephens teme não só uma prorrogação gradual e indesejada da missão, que poderia precipitar os Estados Unidos numa campanha militar muito mais extensa – coisa que sobretudo o Reino Unido e a França vêm procurando incentivar –, mas também que um envolvimento mais profundo possa estabelecer um novo precedente para intervenções semelhantes por motivos humanitários, em outras regiões de crise.
Já Jeffrey está mais preocupado se, mesmo agora, Obama possui a determinação política para empregar potência aérea suficiente para neutralizar o "Estado Islâmico". Referindo-se às tendências multilateristas do presidente e a seu ceticismo quanto ao uso de força militar, ele brinca: "É quase a posição do governo alemão, e esse é o problema. Não somos o governo alemão. Somos aqueles que o governo alemão e todo o mundo mais espera que vá liderar."