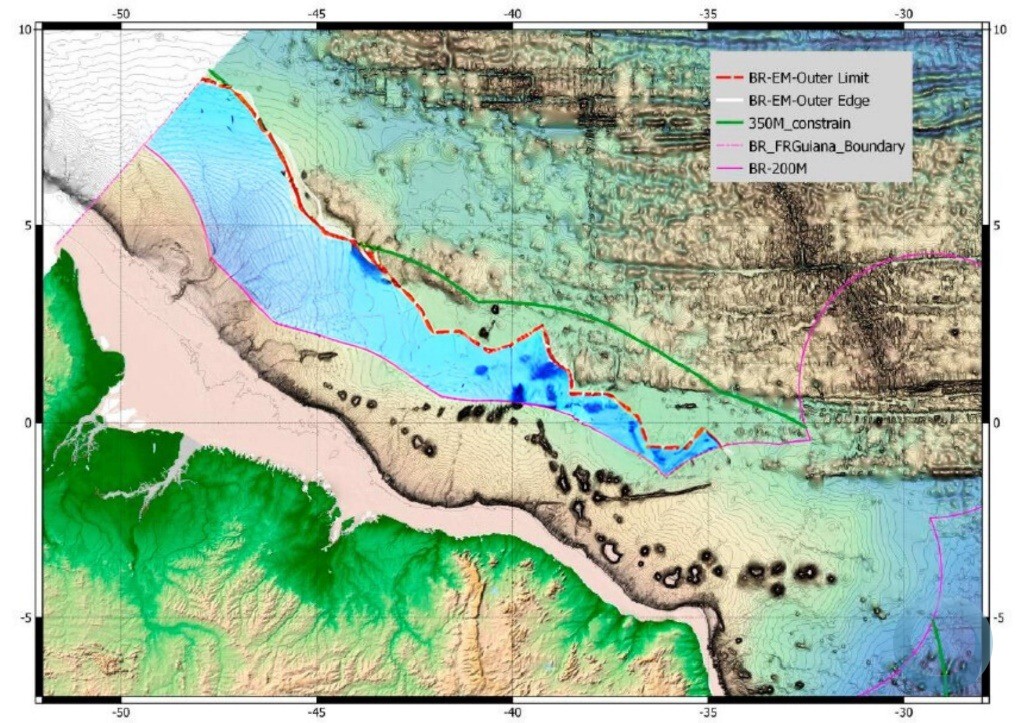Leonêncio Nossa, de Brasília
O Estado de S. Paulo
Na noite de sexta-feira, 19 de setembro, o Estado brasileiro reconheceu que aikewaras, índios conhecidos pelo complexo grafismo exposto no corpo com tintas de jenipapo e urucum, foram atingidos pela presença das Forças Armadas no Araguaia para reprimir a guerrilha do PCdoB, nos anos 1970.
A Comissão de Anistia, do Ministério da Justiça, concedeu uma reparação individual de 130 salários mínimos a 14 moradores das aldeias Sororó-Suruí e Itahy, hoje pequenos conjuntos de casas de alvenaria encravados num pedaço da floresta amazônica cercado de pastos e assentamentos rurais no sudeste paraense.
A decisão foi comemorada de forma discreta por cerca de 30 índios que viajaram de Marabá para Brasília. A maioria dos que estavam no salão de entrada do ministério não chegava aos 40 anos, tempo que terminou o massacre dos guerrilheiros. De calças jeans e camisas de algodão, índios exibiam nos braços e rostos listras e desenhos do grafismo esvaziado ao longo do tempo, mas que ainda faz referências à mitologia do céu e à castanheira, árvore que motivou a fama de “índios castanheiros” no espaço habitado também pelos brancos.
Lembrar o passado, algo de que os velhos suruís, como são conhecidos na região, sempre evitaram falar, tornou-se para jovens lideranças da aldeia um diferencial do grupo na busca de recursos públicos para a melhoria de vida dos 400 adultos e crianças que vivem na reserva localizada em terras dos municípios de Marabá, São Geraldo e Brejo Grande do Araguaia.
Não foi uma opção política fácil. Num passado distante, os aikewaras andavam orgulhos pelas margens dos Rios Araguaia, Saranzal e Sororó com grandes cocares de penas de arara. Depois, diante de histórias dos brancos que os associavam à repressão macabra aos guerrilheiros, eles se recolheram, negando a identidade. A terra também ficou oficialmente menor. O governo reconheceu como território deles o espaço que ainda não tinha sido tomado por exploradores de castanha, cerca de 26 mil hectares. Rodovias foram abertas em áreas de coleta de alimentos e caça e fazendeiros fecharam castanhais que garantiam renda.
Documentos destacam que tropas legais utilizaram o território dos aikewaras e usaram índios como guias nas campanhas de combate à guerrilha. Embora os benefícios tenham sido individuais, a reparação teve caráter coletivo. A índia Teriwera Suruí, de cerca de 60 anos, narrou o aborto forçado de dois filhos no tempo do “tiroteio”. “Acho que foi o susto por causa dos tiros.
Eu sofri demais”, disse. Outros relataram ter passado fome e sede e sofrido com picadas de cobras e insetos nas andanças na mata com os militares. Os relatos apontam que roças e depósitos de mantimentos foram destruídos, causando desnutrição. <TB>
No julgamento, a Comissão de Anistia foi comedida ao se referir aos maus-tratos sofridos pelos índios, evitando o termo “tortura”. O presidente da comissão, Paulo Abrão, explicou que o Estado anistiava danos causados por “atos de exceção”, o que não configuraria automaticamente o crime de tortura. Estava explícito, porém, que ele recorria à polêmica de separar tortura de ato de exceção para evitar uma inevitável comparação com o drama vivido por outros grupos não menos frágeis do Araguaia, como o dos camponeses.
Migrantes miseráveis dos sertões maranhenses, os camponeses sofreram violências que não diferem das barbaridades cometidas contra presos políticos nas metrópoles. Nas memórias de quem passou pelos porões do Doi-Codi no Rio e em São Paulo ou pelas bases militares no Araguaia, tortura é um termo usado nas referências ao estupro, ao choque elétrico, à perfuração do corpo, à introdução de objetos no ânus, ao esmagamento de testículos e a rituais macabros como passar a noite ao lado de corpos de guerrilheiros ou dançar em cima de latas de leite condensado.
Em conversa com o Estado na véspera do julgamento, Abrão disse que a situação dos índios era peculiar, diferente da dos camponeses. Mas, observou, que a anistia concedida a cerca de 40 camponeses, em 2010, também se baseou em testemunhos orais.
A dificuldade de reunir provas de violências contra pobres é um entrave nas pesquisas. Geralmente, no interior profundo, os abusos da força do Estado só estão presentes em processos fundiários e criminais guardados em arquivos empoeirados dos fóruns das pequenas cidades. Essa foi a tônica da defesa dos pedidos dos índios.
No julgamento, a antropóloga Iara Ferraz, que mantém relação próxima com os aikewaras desde 1975, avaliou que os efeitos das ações militares entre os índios se “equiparavam” à tortura. Ela afirmou que os aikewaras foram “prisioneiros de guerra” e enfrentaram “desorganização familiar” e “medo da morte”, que teriam causado sequelas. Pesquisadora e ativista de direitos humanos na floresta, Iara chegou a ser detida dois dias na Casa Azul, em Marabá, em 1976, quando o local deixava de ser centro de tortura de guerrilheiros para ser de camponeses.
Em plena ditadura, Iara atuou para a demarcação e homologação do território dos aikewaras, visado havia décadas por senhores de seringais, castanhais e garimpos. Ela ainda defendeu gaviões, apinajés e outros povos sufocados pelas ações do Estado e interesses de grupos econômicos no Pará. “Minha vida está lá. Em janeiro fará 40 anos de minha relação com os aikewaras”, disse. “Eu só queria que o dinheiro da anistia saísse do soldo dos militares.”
É dela o estudo Tempo de Guerra: Os Aikewaras e a Guerrilha do Araguaia, ainda no prelo. Iara avalia que as condições enfrentadas pelos camponeses e pelos índios não são “comparáveis” e ambos enfrentaram a tortura para valer. Ela chama a atenção para o fato de que a ocupação militar privou os índios de sua vida, da busca pela subsistência, separando-os da família.
Para a antropóloga, a diferença da visão de mundo desses índios de língua tupi pode ter peso cultural maior no grau de barbárie. “É impossível se colocar na condição do outro sendo de outra cultura”, avalia. “Meu trabalho de antropóloga é justamente entender o ponto de vista do índio.”
Quando foram contactados, em 1960, o povo aikewara, termo que significa “povo daqui”, era formado por 126 índios. Uma gripe o reduziu a menos de 40, número encontrado pelos militares. Ainda na ditadura, a população passou a crescer.
Numa floresta de excluídos de diferentes níveis, a reparação aos aikewaras abriu o debate sobre camponeses usados, como eles, no serviço compulsório de guiar o Exército. Esses camponeses, os “bate-paus”, não tiveram sucesso em seus pedidos de anistia. Por tradição, o benefício não é concedido a “perseguidores”. São os casos de José Maria Alves da Silva, o Zé Catingueiro, que virou guia após ser torturado pelos militares, e de Abel Honorato, o Abelinho, vistos com desconfiança por grupos de direitos humanos.
A exigência de provas já beneficiou num passado muito recente os próprios aikewaras e salvou a história da guerrilha. Em 2005, uma banca de professores de história da Universidade de Brasília aprovou monografia de mestrado que sugeria ligação entre a decapitação do guerrilheiro Arildo Valadão, em 1973, e a suposta tradição dos aikewaras de mutilar o inimigo. “Esses índios tinham por hábito milenar cortar as cabeças dos vencidos”, destacava o trabalho.
Arildo foi decapitado por mateiros nordestinos. E os aikewaras não aceitam a separação de membros do corpo, o que impediria o morto de deixar o espaço dos vivos. Por fragilidade comprobatória, a monografia é rejeitada por pesquisadores. Lideranças indígenas prometem mover processos contra militares e estudiosos. Tiramé Suruí disse, num encontro com Iara Ferraz, que os autores das “falsidades” achavam que os índios nunca leriam esses relatos.
A pesquisadora da guerrilha do Araguaia Myrian Luiz Alves reclama que ações do governo relativas à memória do tempo da ditadura, especialmente a criação de uma Comissão Nacional da Verdade, não são baseadas em trabalho de investigação. Ela critica a formação de grupos de buscas de corpos de guerrilheiros e a política de indenizações desconectadas de estudos por parte de órgãos públicos. “Tentar resolver as coisas sem a prova do crime é uma forma de proteger o criminoso”, avalia.
A antropóloga Iara Ferraz reclamou no julgamento que 30 horas de gravação de depoimentos de aikewaras armazenados num HD não foram assistidos pela comissão. Na conversa com o Estado, ela afirma que, no caso dos índios, não é possível argumentar que faltam provas testemunhais. “Isto se o julgamento não seguir um arcabouço jurídico positivista”, disse. Atualmente, o que Iara busca nos arquivos não é prova de tortura, mas documentos para aumentar o tamanho do território dos aikewaras.
As invasões da terra indígena e as perseguições aos aikewaras começaram bem antes do conflito entre militares e guerrilheiros. Exércitos de jagunços contratados por exploradores de borracha e castanha no começo do século 20 promoveram a “limpeza” da mata, com a entrada violenta nas aldeias, fuzilando adultos e crianças. Antes de o major Curió e seus companheiros de farda chegarem ao Araguaia e imporem a força do Estado, o mito de Curiolano, o matador de índios mais famoso da região, assombrava. Mais tarde, pistoleiros a mando de fazendeiros mantiveram a matança. O Estado sempre legitimou o poder dos latifundiários, concedendo robustos incentivos e linhas de crédito para denunciados por trabalho escravo e assassinato.
Os aikewaras podiam ser os melhores conhecedores dos varadouros, mas estavam longe de ser guias ideais na visão dos militares. As diferenças culturais impediram que eles ocupassem funções estratégicas nas patrulhas como os camponeses. Na manhã do Natal de 1973, um índio de uma patrulha encontrou no caminho uma tiranaboia, inseto mítico.
O susto e desespero do índio permitiu que guerrilheiros percebessem a aproximação dos inimigos. Ao chegar ao acampamento da guerrilha, os militares só encontraram o comandante do grupo, Maurício Grabois, quase cego, e outros três doentes. Nesse momento, o aikewara que viu a tiranaboia estava longe. Não viu o horror da execução de quatro homens sem condições de reagir.
Paulo Abrão anunciou a sentença pela reparação em tom solene. “A partir de hoje, a história do Brasil tem que ser contada diferentemente”, afirmou. “O Estado reconhece sua ação de exceção e repressão contra os povos indígenas e pede perdão.” Ao anunciar uma “nova” forma de narrativa oficial do passado, Abrão deixou claro a opção do Estado em contar a história exclusivamente pelo mesmo processo a que pesquisadores recorrem na tentativa de esclarecer as circunstâncias da barbárie militar no campo.
Mas, no caso dos estudiosos, o uso do testemunho oral como fonte única não é opção, mas alternativa à impossibilidade de entrar no arquivo do Centro de Inteligência do Exército, Ciex, antigo CIE, em Brasília. A prática do Estado em abrir mão de seus documentos e o testemunho de seus agentes para esclarecer abusos da máquina não se limita aos crimes do passado. Até agora, o Ministério da Justiça não finalizou as sindicâncias das mortes dos índios Oziel Gabriel Terena, em Mato Grosso do Sul, e Adenilson Munduruku, na divisa do Pará com Mato Grosso, durante operações da Polícia Federal. Os assassinatos ocorreram no governo Dilma Rousseff.