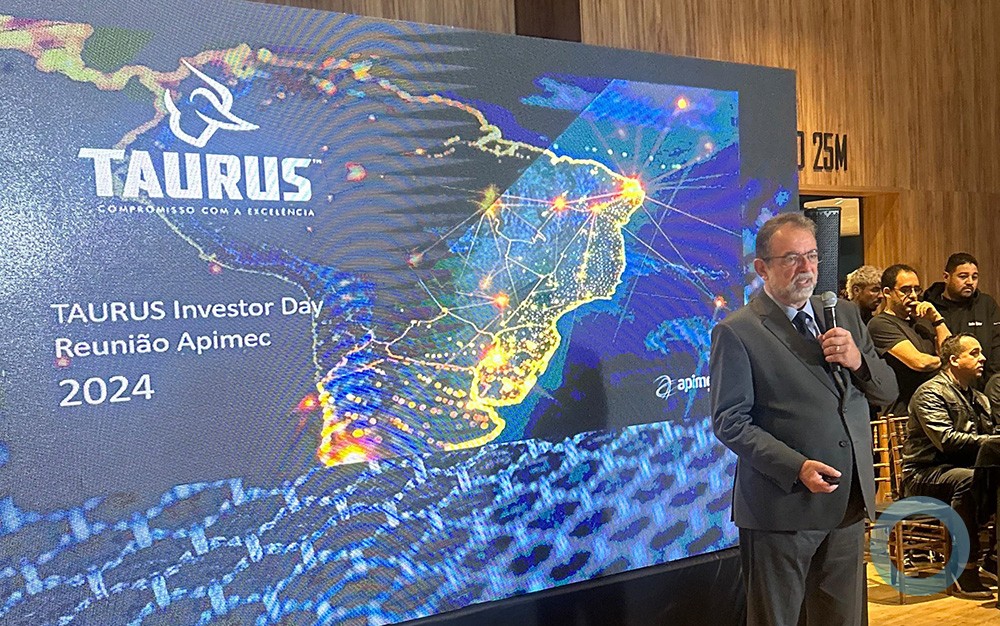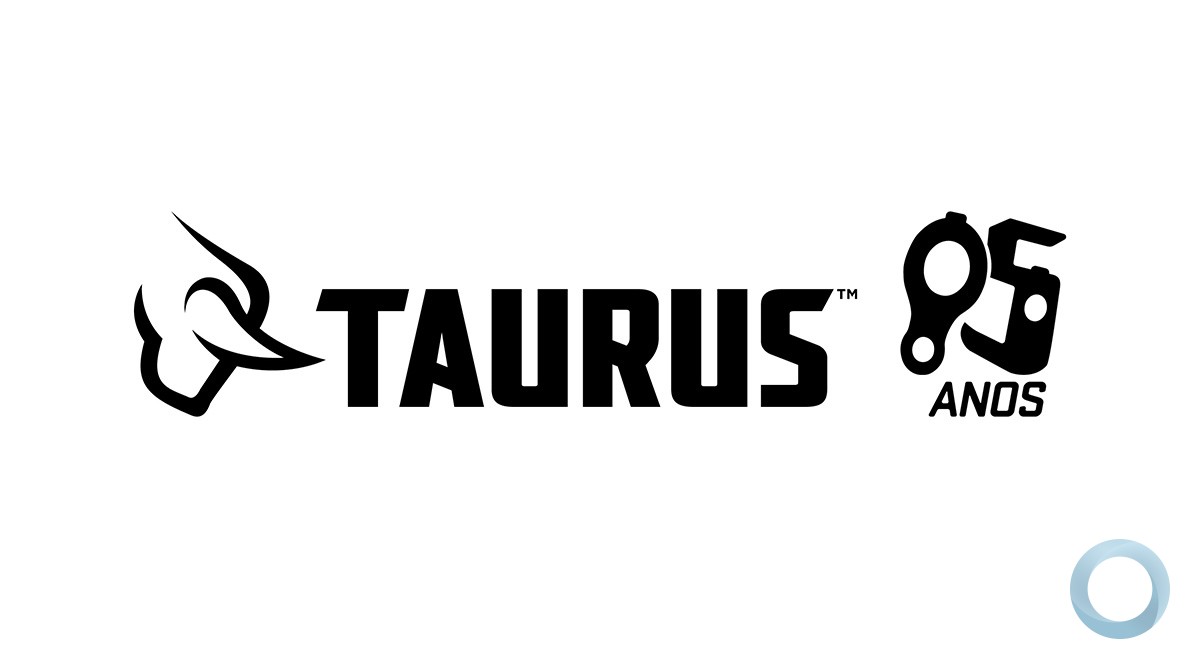Yan Boechat
Era bem cedo e estávamos tomando café da manhã quando ele engasgou. Tossiu um pouco e começou a vomitar. Primeiro vieram pedaços de pão; depois, o sangue. Bastante sangue.
Desde que não conseguimos mais comprar o remédio de que ele precisa tem sido assim. As varizes que ele tem no esôfago não suportam a pressão do sangue, se rompem e ele vomita sangue. Eu não consigo encontrar esse propranolol desde o ano passado.
De vez em quando, alguém nos dá uma cartela e ele toma, mas é raro. Os médicos já me avisaram que, se eu não conseguir os remédios, ele pode morrer. A veia pode se romper e ele ter uma hemorragia. Pode morrer dormindo. Eu sei que ele tem um pé aqui na Terra e o outro no Céu. Isso nem é o pior. O pior é quando ele tem dores e chora. Dou remédio para febre, que é o único que tenho. Aí torço para ele dormir, para cansar da dor e dormir.
Passo a noite fazendo carinho na barriga dele, no peito, é tudo que eu posso fazer para diminuir a dor. Algumas vezes funciona. Em outras, não." Ninoska Torrealba, de 50 anos, acompanha seu neto Alenxon Gomes, de 5, em sua agonia no Hospital de Niños J.M. de los Ríos, em Caracas.
Pernas finas, cabelo curto, ele deveria estar brincando, não naquela cama. Suas varizes no esôfago poderiam ser curadas com uma cirurgia. Mas o hospital não tem o kit básico para a operação. O rompimento dos vasos poderia ser tratado com remédios, mas eles não estão disponíveis.
Ao menos as dores poderiam ser aliviadas com analgésicos; mas estes também não existem nas farmácias. Alenxon sofre de algo plenamente curável, como sofria um doente há 100 anos, apenas porque vive na Venezuela.
Os amplos corredores iluminados pela luz tropical que atravessa as grandes janelas da ala de infectologia do Hospital Universitário de Caracas dão um ar de grandiosidade decadente a esse conjunto de três prédios dos anos 1950, símbolo da arquitetura modernista da Bauhaus, considerado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Há um bosque ao redor.
O piso vermelho de cimento queimado reluz de tão limpo, enquanto armários, cadeiras e mesas de metal pintados de bege, já enferrujados, fazem tudo ali parecer velho, antigo. Nos cantos, pacientes aguardam ser atendidos. Muitos estão debilitados. Outros trazem sacolas com comida, água ou medicamentos de que seus familiares internados vão precisar.
São observados por idosos, homens e mulheres, metidos em fardas militares dois ou três números maiores. Eles integram os chamados Milicianos do Povo, responsáveis por vigiar quem entra e sai e se alguém faz fotos. Fazem parte da rígida segurança instalada nos hospitais venezuelanos desde que os problemas crônicos na saúde pública ganharam contornos de crise humanitária.
Nos últimos meses, diferentes países, entre eles o Brasil, e organizações ofereceram ajuda à Venezuela, que vive à beira de um colapso sem precedentes em seu sistema de saúde. O governo, no entanto, recusa todas as ofertas.
A exemplo do que faz a Coreia do Norte, a gestão de Nicolás Maduro afirma que a situação está sob controle. "É difícil imaginar por que o governo não aceita abrir um corredor humanitário. É uma questão urgente, as pessoas estão morrendo por questões meramente ideológicas, estúpidas", diz o cirurgião José Félix Olleta, ex-ministro da Saúde (1997- 1999), com atuação nos partidos de oposição e na sociedade Venezuelana de Saúde Pública.
O colapso é a face mais dramática da tragédia econômica do país dono da maior reserva de petróleo do mundo. A escassez quase absoluta de medicamentos e insumos hospitalares se explica pela falta de dólares. "Com nossas reservas tão baixas – US$ 9,8 bilhões –, a tendência é esse problema se agravar ainda mais porque simplesmente não há dinheiro para comprar o que precisamos", diz Olleta, que calcula que o governo venezuelano precisaria importar cerca de US$ 6 bilhões em remédios e insumos.
Sentada em um cubículo onde não cabem mais do que três pessoas, a infectologista Maria Eugenia Landaeta, chefe do departamento responsável por atender os pacientes com HIV, sabe que tem a oferecer a seus pacientes quase nada além de corredores limpos e camas hospitalares. "Nem água potável temos mais", diz ela, num sorriso contido, quase sem graça, quase sem esperanças.
"Todos os meus pacientes internados aqui estão condenados à morte, isso não vai demorar muito. Na verdade, estão morrendo, sempre tem alguém morrendo, o tempo todo." Clara, de cabelos curtos cortados ao estilo Chanel, Landaeta vive resignada diante da impossibilidade de oferecer um tratamento que possa salvar a vida dos que buscam ajuda no Universitário, antes considerado um centro de excelência em tratamentos de alta complexidade.
Há 20 anos no hospital, com um salário de 500 mil bolívares (equivalentes a US$ 20), ela chefia uma equipe de cinco médicos – outros sete abandonaram o emprego e deixaram o país nos últimos 18 meses. "Nós os deixamos aqui para dar algum conforto, para que morram em melhores condições do que em casa, mas nem mesmo analgésicos temos mais e nossa morfina está acabando", conta uma de suas comandadas, que, por medo de represálias do governo, pede para não ser identificada.
"Tenho aids desde que nasci. Minha mãe foi contaminada pelo meu pai e passou a doença para mim. Eles estão mortos e vivo com meus avós. As coisas nunca foram fáceis, mas desde o início do ano ficaram muito complicadas. O governo deixou de fornecer os remédios de que preciso.
Primeiro, atrasava na entrega. Depois, prometia entregar e eu passava um, dois meses sem o coquetel. Até que, de quatro meses para cá, acabou. Sem os remédios fico muito fraco. Agora, contraí uma infecção causada por um fungo que existe nos pombos. Estou há dois meses no hospital, entre idas e vindas. Aqui não tem nada. Até a água para beber meu avô traz para mim. Mas ao menos os médicos estão aqui, me acompanham.
Eu quero ser um programador, trabalhar com computadores. Mas ando com medo. Eu sei que corro o risco de chegar a um ponto sem volta, em que os remédios não vão mais fazer efeito. Eu vejo isso aqui sempre. Na semana passada, um colega da cama aqui do lado chegou a esse ponto. E morreu.
Sempre tem alguém morrendo aqui. Mas eu quero viver." Analis Fernandes, de 39 anos, deu entrada no Hospital Universitário de Caracas há pouco mais de um mês para uma consulta rápida devido a uma infecção urinária. Mas não havia remédios.
Nas últimas semanas, com o avanço da infecção, seus rins entraram em colapso, e ela passou a fazer hemodiálise. Analis passa o dia ao lado da filha Alejandra, de 20 anos, e de um urso de pelúcia. As bactérias avançam para outros órgãos, e as chances de Analis morrer por uma causa tão simples crescem dia a dia. David Flora, seu médico, afirma que ela dificilmente sobreviverá por mais 30 dias. Analis sabe disso.
Apesar de dramático, o caso do Universitário de Caracas é a regra numa Venezuela à beira do caos. A saúde pública do país se aproxima do colapso. Falta tudo. Ninguém sabe ao certo a dimensão da crise porque há dois anos o governo deixou de publicar qualquer estatística em relação à saúde.
Não se tem ideia do número de nascimentos, mortes ou casos de doenças infecciosas. Em maio, a recém-empossada ministra da Saúde, Antonieta Caporale, cometeu o erro de divulgar os boletins epidemiológicos do país, algo normal em qualquer país. Foi demitida dois dias depois. "Nós retrocedemos quatro, cinco décadas, é uma situação insustentável", diz Danny Golindano, um hematologista que trabalha no Banco de Sangue de Caracas e diretor nacional da Sociedade Médicos pela Saúde, uma organização de profissionais que atuam no sistema público.
Todo primeiro semestre a organização faz um levantamento sobre o estado das coisas nos hospitais públicos. No último, realizado neste ano, o retrato é desolador: é quase impossível fazer qualquer exame nos hospitais venezuelanos e em mais de 60% deles não há nem comida. A situação no setor público não é tão diferente do privado.
Como o governo controla 100% das importações de medicamentos, a escassez é absolutamente crítica entre as clínicas e hospitais particulares. Mesmo pacientes de classe média alta que necessitam de tratamentos de alto custo, como determinadas quimioterapias ou imunossupressores, para transplantados, têm imensas dificuldades para consegui-los.
"Nós montamos uma rede de monitoramento em 40 farmácias de Caracas na tentativa de encontrar os remédios. Neste mês (setembro) havia 100% de falta de remédios para diabetes e 97% de falta de remédios para hipertensão. Insulina não há no país há meses", diz Francisco Cabezas, presidente da Codevida, uma rede de ONGs ligadas à saúde.
Sem remédios, as farmácias venezuelanas vendem salgadinhos, biscoitos, produtos de limpeza, se transformaram em mercados. "Quando Ruben finalmente fez o transplante, há quase dois anos, imaginávamos que o pior havia passado. Ele fazia hemodiálise havia seis anos. Saímos do hospital felizes, esperançosos, mas sem imaginar o que passaríamos a enfrentar.
No começo, o seguro social nos entregava os remédios de alto custo de que o Ruben precisa para não haver rejeição e, os outros, encontrávamos nas farmácias. A dieta era restritiva, mas conseguíamos comprar o que era necessário. Mas, a partir do ano passado, alguns remédios começaram a desaparecer. Os de alto custo, o seguro social começou a atrasar. E até coisas simples para a alimentação de Ruben começaram a ficar cada vez mais caras.
Mas foi nesse ano que tudo aconteceu. Sem remédios, passamos a acessar os traficantes de medicamentos e quase toda a nossa renda é consumida pelos remédios. Às vezes, consigo alguns em apresentações para animais e os compro em veterinárias. Eu e o pai do Ruben cortamos drasticamente nossa dieta. Não tomamos mais café e nem lanchamos, apenas almoçamos e jantamos. Carne, nós não comemos há pelo menos quatro meses. Eu perdi 22 quilos desde janeiro e o pai dele mais de 30.
Ainda assim não conseguimos todos os remédios de que o Ruben precisa, mas aos principais ele tem tido acesso. Esperamos que ele realize o sonho de ser um homem feliz." Ruben Canales, de 14 anos, um garoto bochechudo, recebeu um rim há pouco mais de um ano, em um dos últimos transplantes do sistema de saúde venezuelano.
Para que ele possa se manter estável e não correr o risco de perder o rim, seu pai, Jorge Canales, desempregado, e sua madrasta, Marina Samguina, costureira, deixaram de comer para pagar por alguns dos remédios. Mesmo assim, a renda de 400 mil bolívares (US$ 15) só compra 80% do que Ruben precisa. Diante da proibição de importação de medicamentos sem a intermediação estatal, ONGs estão apelando para o contrabando. "Eu não posso dizer como, porque é ilegal, mas felizmente estamos conseguindo receber doações do exterior de medicamentos importantes. É muito pouco, mas algumas pessoas nós conseguimos ajudar", conta Bolívia Bocaranda, presidente da Senos Ayuda, uma organização voltada para pacientes com câncer de mama.
Mulheres nessa condição simplesmente fazem a mastectomia radical por falta de remédios para o tratamento pós-operatório. "Essa é a recomendação para todas as pacientes", diz um médico radiologista que prefere não se identificar.
Em clínicas privadas, os médicos ainda consultam as pacientes. "Mas no sistema público não há conversa, tiramos a mama sem pensar", diz o médico. Ele calcula que ao menos 80% das mulheres que realizaram mastectomia radical na Venezuela no último ano teriam chance de manter a mama ou parte dela. "Elas carregam no corpo a marca dessa crise sem precedentes que vivemos", diz. "Quando descobri o nódulo e fiz os primeiros exames, imaginava que não precisaria retirar meu seio. Era um tumor pequeno, de baixa complexidade. Descobri que com químio, uma cirurgia simples e radioterapia talvez eu nem ficasse com marcas profundas. Estava tranquila. Mas aí meus médicos alertaram sobre as dificuldades de conseguir remédios e tratamentos.
Minha quimioterapia eu precisei interromper três vezes porque não conseguia os medicamentos. Nos hospitais públicos era impossível, e na clínica onde fui operada caberia a mim encontrá-lo. Aos poucos, fui conhecendo pessoas que estavam desesperadas por medicamentos que deveriam ser oferecidos pelo seguro social, mas que simplesmente não existiam no país. Foi aí que decidi retirar tudo. Minha decisão não foi emocional, foi racional. Nenhuma mulher quer ter parte de seu corpo mutilada, principalmente uma parte tão ligada à feminilidade.
Mas foi o melhor. Me mutilei para sobreviver." Luzdely Bruce, de 48 anos, é uma mulher abatida, cabelos curtos, olhar resignado. Ela tinha um câncer de apenas 2 milímetros no seio esquerdo. Como mais de 80% das mulheres venezuelanas que não precisariam retirar a mama, ela seguiu a recomendação dos médicos e arrancou tudo, até o último resquício de tecido mamário, em uma clínica particular, graças em boa parte a dinheiro de parentes que vivem nos Estados Unidos.
Hoje, na Venezuela, é praticamente impossível conseguir tratamento como a radioterapia. Sem ao menos conseguir vacinar seus cidadãos, a Venezuela viu o ressurgimento de doenças que estavam praticamente desaparecidas, como a difteria ou o sarampo.
Os médicos tentam improvisar para manter o atendimento aos pacientes. Na ala de nefrologia do Hospital JM de los Rios, referência em pediatria no país, a ordem é não perder nada. "Estamos como em uma guerra, em que fazemos tudo o que podemos para não perder nada de material", afirma Belén Artgeaga, a chefe do setor. Um dia, Belén ouviu da mãe de um paciente como consertara um brinquedo de plástico com a cola Superbonder. Decidiu experimentar. "Eu me especializei em consertar cateteres rompidos. Criei uma técnica com Superbonder que é uma maravilha." O material é usado na hemodiálise de crianças. Foi sob seu comando que 11 crianças morreram no hospital nos últimos meses em um caso de infecção hospitalar que chocou a Venezuela.
As crianças com problemas renais foram contaminadas por uma bactéria encontrada na usina de purificação da água utilizada nas hemodiálises. Identificado o problema, 18 delas foram hospitalizadas. No entanto, o hospital não tinha antibióticos suficientes. "Usamos o que tínhamos e ao final conseguimos o antibiótico recomendado, mas ele estava vencido", diz Belén.
Ela afirma que ao menos metade dos óbitos não ocorreu em decorrência direta da infecção, mas por problemas preexistentes, agravados pela situação. "Esse foi um caso difícil, nunca enfrentei tantas mortes em tão pouco tempo na minha carreira." "Meu filho morreu no fim de um dia tranquilo. Após semanas lutando contra uma infecção hospitalar, ele parecia finalmente estar respondendo aos novos antibióticos. Desde que ele ficou doente, tivemos muitas dificuldades em conseguir os remédios de que precisava. O hospital não tinha, nas farmácias não se encontrava e nós não tínhamos dinheiro para comprar com os traficantes de medicamentos.
Os médicos iniciavam o tratamento com um antibiótico, mas logo paravam porque o estoque acabava. E aí começavam com outro. Finalmente, depois de quase dois meses, conseguiram o remédio indicado. Mas estava vencido. Nos fizeram assinar um termo de responsabilidade. Assinamos, o que eu ia fazer? Meu filho estava sofrendo, gritava, urrava de dor toda vez que precisava fazer hemodiálise. Depois de semanas de muito sofrimento, naquela terça-feira ele estava bem. Não sentiu tantas dores, não reclamou muito. Pouco antes, disse que me amava e até pediu para ir ao banheiro. Então ele dormiu. Respirou de um jeito estranho. E se foi. Eu fiquei com a saudade, a dor e a raiva." Judith Bront perdeu seu único filho, Samuel, de 12 anos, há três meses.
Ele foi uma das 11 crianças vítimas da infecção por bactérias no hospital infantil de Caracas. Devido aos problemas renais, Samuel era um garoto caseiro. Gostava tanto de escrever que fez uma biografia dos pais: "A história de Judith & Miguel". Pedia aos visitantes que deixassem uma mensagem numa grande folha na porta de seu quarto no hospital. Como todos os médicos, a pediatra Sônia Sifontes, de 40 anos, também do hospital JM de los Rios, se sente impotente diante dos problemas que seus pacientes enfrentam.
"A situação foi se agravando gradualmente, até chegarmos a ponto de não termos as coisas mais básicas, como luvas ou simples agulhas", conta ela. Há pouco mais de um mês, Sônia se deu conta de que ela mesma estava se tornando uma vítima da crise médica ao perceber que iria ficar sem o remédio essencial para controlar uma cardiopatia. "De repente, me vi sem nada e não conseguia comprar. Eu o uso cotidianamente", diz ela.
Após dois desmaios no hospital e algumas crises de hipertensão, foi convencida por seus colegas a fazer o que todos os venezuelanos têm feito nestes tempos de crise. "Veja bem, eu, que sempre critiquei os caminhos tortos, tive de ir até o diretor do hospital, que vem a ser o vice-ministro da Saúde, e explicar que eu precisava do bisoprolol para continuar trabalhando", diz ela, quase constrangida.
Em poucos dias, uma caixa do medicamento, com apresentação em russo, surgiu em sua mesa. "Estou usando. Nunca perguntei de onde veio. Não sei se quero saber".