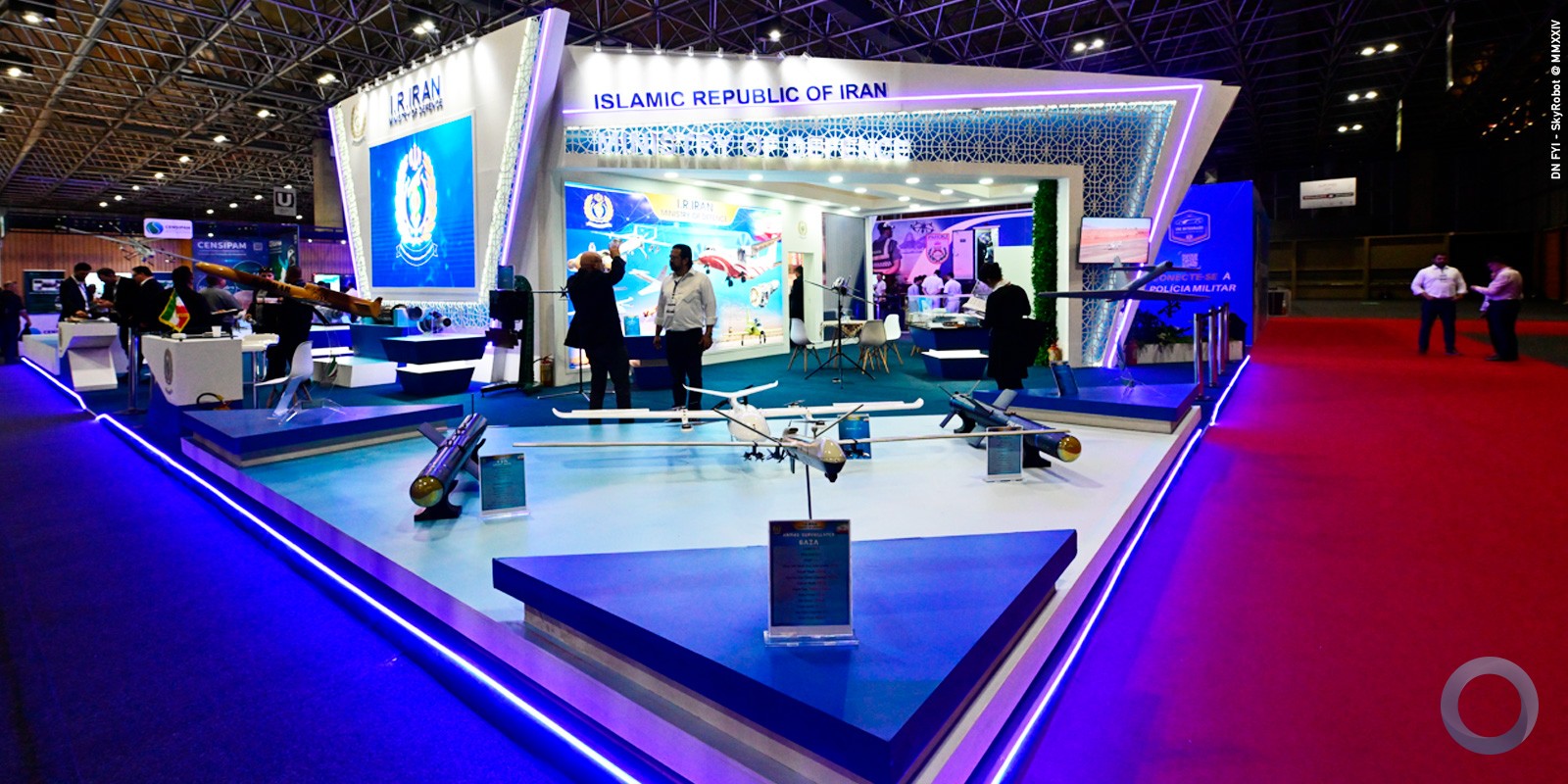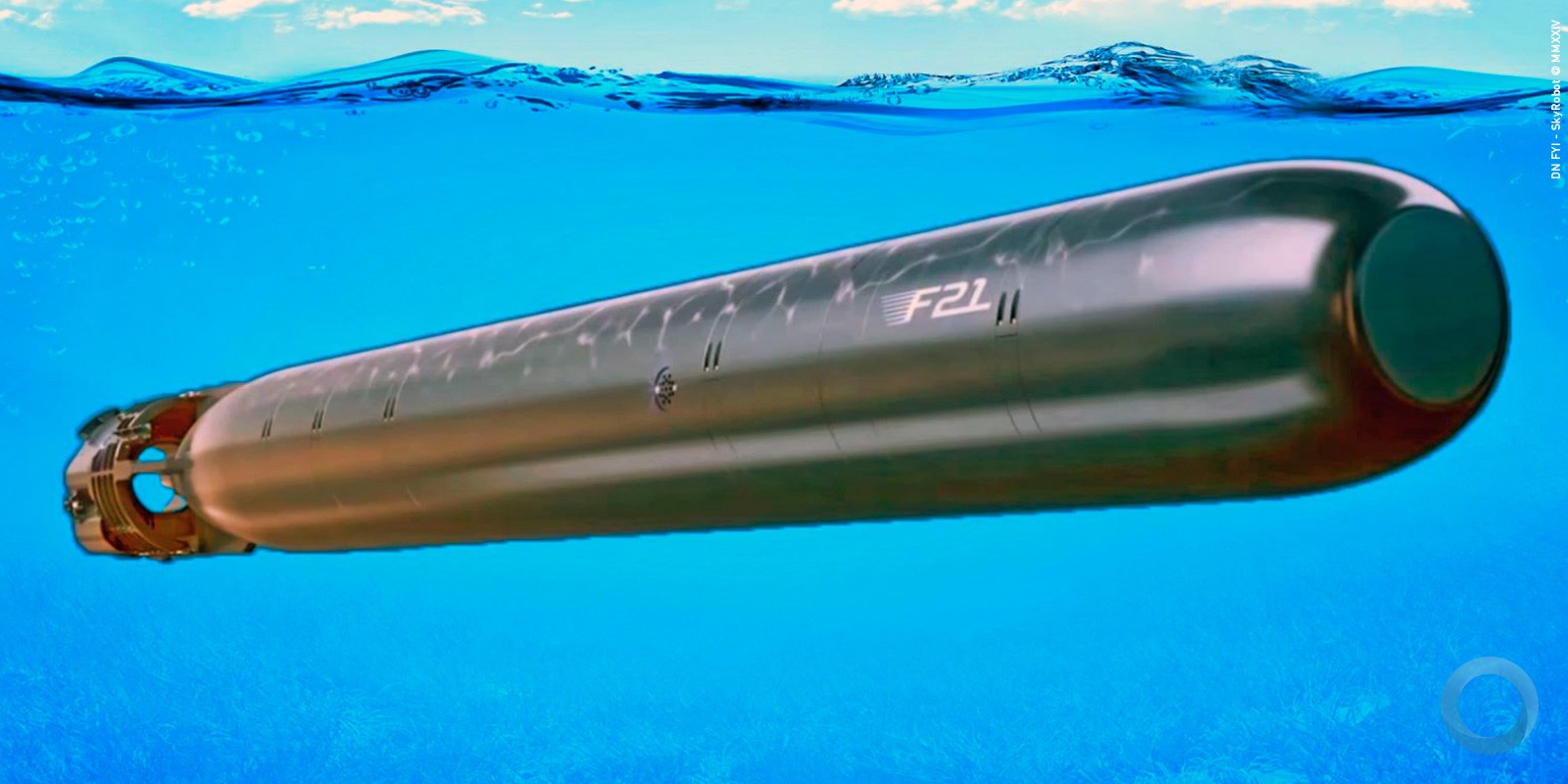O site da residência oficial americana (www.whitehouse.gov) destacou, na data anunciada, a importância do evento: "Na segunda-feira, 9 de abril de 2012, a Primeira Família vai receber o 134º Egg Roll da Páscoa na Casa Branca. O tema deste ano é "Vamos lá, vamos jogar, vamos em frente". Mais de 35 mil pessoas estarão conosco no Gramado Sul para jogos, histórias e, é claro, a tradicional brincadeira do ovo".
Esse pitoresco acontecimento teve mais visibilidade na mídia americana do que o encontro, no mesmo dia 9, da presidente da sexta maior economia do mundo com Barack Obama. É o que conta o professor americano Peter Hakim, presidente emérito do Inter-American Dialogue (Diálogo Interamericano), principal centro de análise política e cooperação entre países do Hemisfério Ocidental, com sede nos EUA. "Ou a visita de Dilma Rousseff foi mal planejada ou Brasil e EUA não tinham nada de muito importante a discutir", admite Hakim, sem meias palavras, nesta entrevista.
Ainda que a presidente tenha voltado a criticar, diante do anfitrião Obama, o "tsunami monetário" promovido pelos EUA para aliviar os sintomas domésticos da crise econômica ou tenha firmado convênios com centros de ensino de excelência como a Universidade Harvard e o Massachusetts Institute of Technology (MIT) – onde Hakim lecionou por anos –, ficou difícil disfarçar a timidez da agenda da visita dessa semana. Puro descaso do presidente americano, na interpretação do jornal britânico The Guardian, que estampou um artigo com o malicioso título Todos Querem Falar com a Presidente Dilma, menos Obama. Ou, antes, na opinião de Hakim, uma questão de inadaptação dos dois países ao novo contexto internacional de crise no mundo desenvolvido e ascensão dos emergentes.
"Os EUA parecem ter certa nostalgia de um Brasil de "perfil baixo" e com menos contundência internacional", admite o analista. "O Brasil, por sua vez, é ainda cauteloso em se movimentar nessa nova estratégia, que combina independência e cooperação."
Apesar das críticas, o presidente do Inter-American Dialogue elogia os acordos firmados por Dilma – "a educação superior é a maior força dos EUA" –, mas alerta, ao comentar a malfadada cooperação entre o Ministério da Educação do Brasil e a United States Agency for International Development (Mec-Usaid), nos anos da ditadura militar, que esse tipo de programa deve ser seletivo e rigoroso para que os estudantes e o País tirem vantagem da experiência.
A visita da presidente Dilma aos EUA cumpriu seus objetivos?
Depois de refletir um pouco sobre a visita, não estou muito seguro de que objetivos eram esses. A mim me pareceu mais um encontro de cortesia, que não pode ser descartado como desimportante, mas com uma agenda tímida demais. As declarações públicas dos dois presidentes foram polidas e respeitosas, mas não passaram de retórica vazia – à parte a crítica feita por Dilma à política monetária americana. Mas talvez eu tenha perdido alguma coisa.
Um artigo no The Guardian criticou a forma como a presidente foi recebida. Disse que Obama lhe deu apenas duas horas, ao contrário da "pompa e circunstância dedicadas aos líderes de Índia, China e Rússia". O sr. concorda com essa análise?
Em termos gerais, sim. É fato que quase não houve pompa e circunstância. A data da visita foi mal escolhida, com o Congresso em recesso. Os líderes de Índia, Rússia e China certamente tiveram recepções mais elaboradas. Mas não é que os EUA tenham sido deliberadamente desatentos ou indiferentes. É que simplesmente não havia questões de grande importância ou urgência a serem discutidas. A mídia ficou procurando uma história e não encontrou. Os dois presidentes não tinham uma agenda clara a cumprir. Ou a visita foi mal planejada e organizada ou Brasil e EUA não tinham nada de muito importante a discutir. Possivelmente, houve uma mistura das duas coisas. Havia dois grandes eventos na Casa Branca no dia 9 de abril. A visita de Dilma e o Easter Egg Roll para crianças (tradicional brincadeira com ovos nos jardins da residência presidencial na Páscoa). O segundo teve mais destaque no noticiário televisivo.
Como entender o fato de que, apesar das significativas mudanças no panorama econômico internacional, as relações entre os EUA e o Brasil continuem em segundo plano?
A agenda americana com o Brasil ou com a América Latina não tem questões terrivelmente urgentes ou de vital importância para os EUA. Cuba, na realidade, não interessa para os EUA, exceto como problema político doméstico. O tráfico de drogas e suas consequências tampouco incomodam muito o país. Imigração é tema importante, mas não assunto a ser debatido com a América Latina; é outro problema doméstico ao qual os EUA se dedicam quando e como lhes convém. A presença da China na América Latina também não é vista com grande preocupação. A América Latina não é uma ameaça aos EUA de nenhuma maneira. Nem mesmo é alvo ou fonte de violência terrorista. O que faria, então, a América Latina sair desse segundo plano?
Para o Guardian, a ideia de que um país latino-americano possa servir de modelo "está além da compreensão" americana.
O fato é que EUA e Brasil ainda não se adaptaram ao novo contexto global. O Brasil emergiu como polo de poder rival nas Américas, tem maior estatura internacional e uma economia mais forte e estável do que nunca. Os EUA parecem ter certa nostalgia de um Brasil de "perfil baixo" e com menos contundência – internacional e regional. Ainda não encontraram um jeito de lidar com esse país assertivo, independente, que diz não aos interesses americanos. Por sua vez, o Brasil conquistou grande parte de sua nova influência afirmando sua independência em relação aos EUA, fazendo-lhe oposição nos fóruns internacionais, posicionando-se em questões como a Área de Livre Comércio das Américas, o Irã, bases militares na Colômbia, Estado Palestino, etc. E parece ainda cauteloso em se movimentar nessa nova estratégia, que combina independência e cooperação, assertividade e respeito.
Um dos destaques da visita foi a parceria firmada entre o governo brasileiro e instituições como a Universidade Harvard e o MIT. O que esperar dessa iniciativa?
É uma grande ideia que pode significar um grande negócio para o Brasil, se houver um número suficiente de estudantes brasileiros preparados para aproveitar esse treinamento de alto nível. Países como a China e a Índia mantêm um número enorme de estudantes nas universidades americanas – e têm há anos tirado vantagem dessa que é a maior força dos EUA, a educação superior. A América Latina, mesmo o México, nosso vizinho, está muito aquém no número de estudantes se aperfeiçoando nos EUA.
A nova cooperação anunciada apaga a triste memória dos acordos Mec-Usaid, feitos com os EUA durante a ditadura militar, que reduziram os anos letivos, cortaram disciplinas e sucatearam a escola pública no País?
Não sou um especialista nos acordos Mec-Usaid. Mas os EUA cometeram muitos erros trabalhando com regimes militares e ditadores personalistas. Além disso, levando-se em conta os recentes índices educacionais americanos, não estou certo de que sejamos o melhor lugar para se buscar conselhos para uma reforma educacional. Se o Brasil busca ajuda nos EUA, deveria fazê-lo com grande cautela – e clareza sobre o que o país realmente necessita. Pelo que sei, o Brasil já tem feito progressos importantes no redesenho de seu sistema educacional, particularmente em São Paulo.
Falando em cooperação, como ela anda entre os países do Hemisfério Ocidental, objetivo principal do Diálogo Interamericano?
Vivemos um período em que a cooperação se tornou mais difícil. A América Latina corretamente se percebe mais capaz do que nunca de agir com independência em relação aos EUA, de diversificar suas relações internacionais e mais apta a lidar com seus problemas por conta própria. Os EUA, por outro lado, enfrentam uma série de problemas que tornam difícil priorizar a cooperação com os países latino-americanos. Sua economia continua fragilizada e insegura, os recursos à disposição são parcos e o cenário político interno está polarizado e crescentemente disfuncional, tornando mais difícil o estabelecimento de um terreno comum para a formulação de políticas. Após engajar-se em duas guerras inconclusivas em menos de dez anos, os americanos têm os olhos voltados, cada vez mais, para si mesmos. Não querem se envolver com os problemas dos outros.
Recentemente, um microfone aberto flagrou uma conversa entre Obama e o então presidente da Rússia, Dmitri Medvedev, em que o mandatário americano prometia ser mais flexível às demandas russas após livrar-se "do problema da reeleição". Pode-se esperar comportamento distinto também em relação ao Brasil e à América Latina?
Talvez sim. Há alguns pontos na agenda americana com a América Latina que podem ser mais facilmente tratados após o fim do ano eleitoral. A reforma da imigração pode ser amenizada a partir de um acordo entre democratas e republicanos e a administração Obama deve dar mais alguns passos na agenda com Cuba. E há sempre a possibilidade de que o governo reveja seu approach com o Brasil – livre do risco de que uma concessão maior feita ao País lhe renda a acusação de tolerância com uma nação "amiga do Irã".
A esse respeito, o sr. escreveu que o Brasil sempre foi visto como um player que prefere se abster em certas questões, como a defesa da democracia e dos direitos humanos. Tal percepção se alterou após a mudança de tom de Dilma em relação ao Irã, por exemplo?
Dilma claramente mudou a forma com que o País lida com questões de democracia e direitos humanos, mas não de maneira tão dramática assim. Há mais continuidade do que mudança em relação ao seu predecessor. O lado positivo é que o Brasil está enfrentando a questão do balanço necessário entre dois princípios – o da não intervenção, por um lado, e o da promoção da democracia, de outro. A escolha certa nem sempre é óbvia. O Brasil sabe que essa decisão não é meramente ética, ela afeta as relações que tem com outros países e não é de se surpreender que se mova de maneira cautelosa. Mas tanto os EUA como a Europa veriam com bons olhos se o País assumisse um posicionamento mais forte na defesa dos direitos humanos, seja nos fóruns internacionais, seja em suas conversações bilaterais com países como Cuba, Irã e outros. China e Rússia é que ficariam menos contentes com isso.
Na sexta-feira, Dilma e Obama tinham outro compromisso, na 6ª Cúpula das Américas, em Cartagena. O que o sr. espera?
Não estou otimista quanto à possibilidade de resultados importantes. Os encontros recentes têm produzido poucos avanços efetivos. A verdade é que nem os EUA nem o Brasil se esforçaram muito nos preparativos para a Cúpula de Cartagena. O engajamento americano neste ano tem sido menor do que em todos os anteriores e as autoridades brasileiras têm sugerido que a Cúpula perdeu relevância em relação a outros fóruns de países latino-americanos e caribenhos. Apesar disso, nos últimos meses a cúpula foi energizada por acontecimentos inesperados em dois dos temas mais polêmicos desde sempre: Cuba e a política de drogas. Os americanos – que provavelmente estarão em posição minoritária e sob fogo cerrado em ambas as questões – serão duramente testados, assim como o grau de civilidade dos 33 países participantes da discussão. O resultado da Cúpula pode acabar sendo relevante ou apenas revelar apenas as animosidades de sempre.