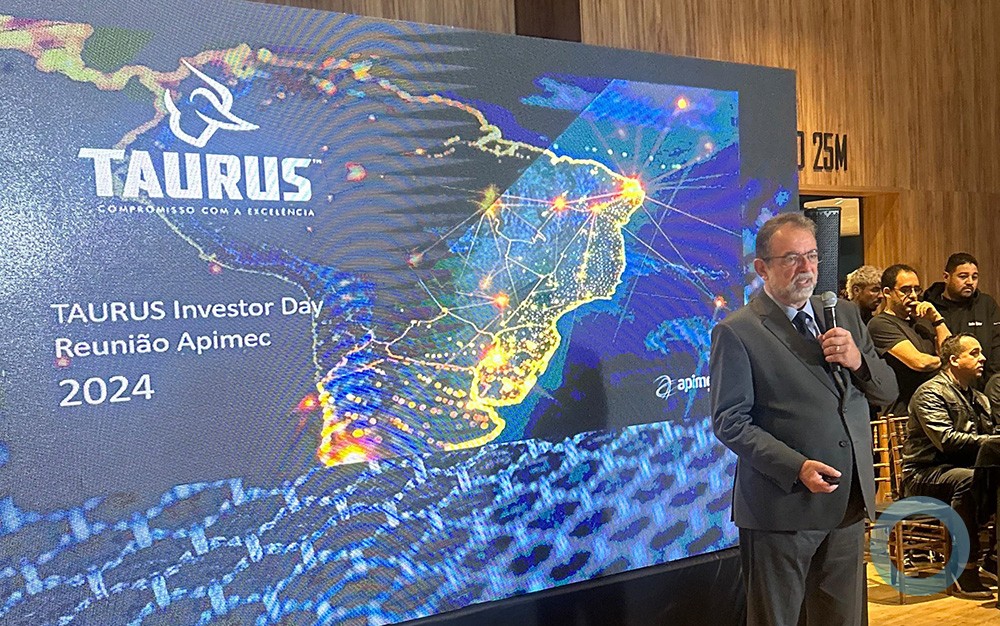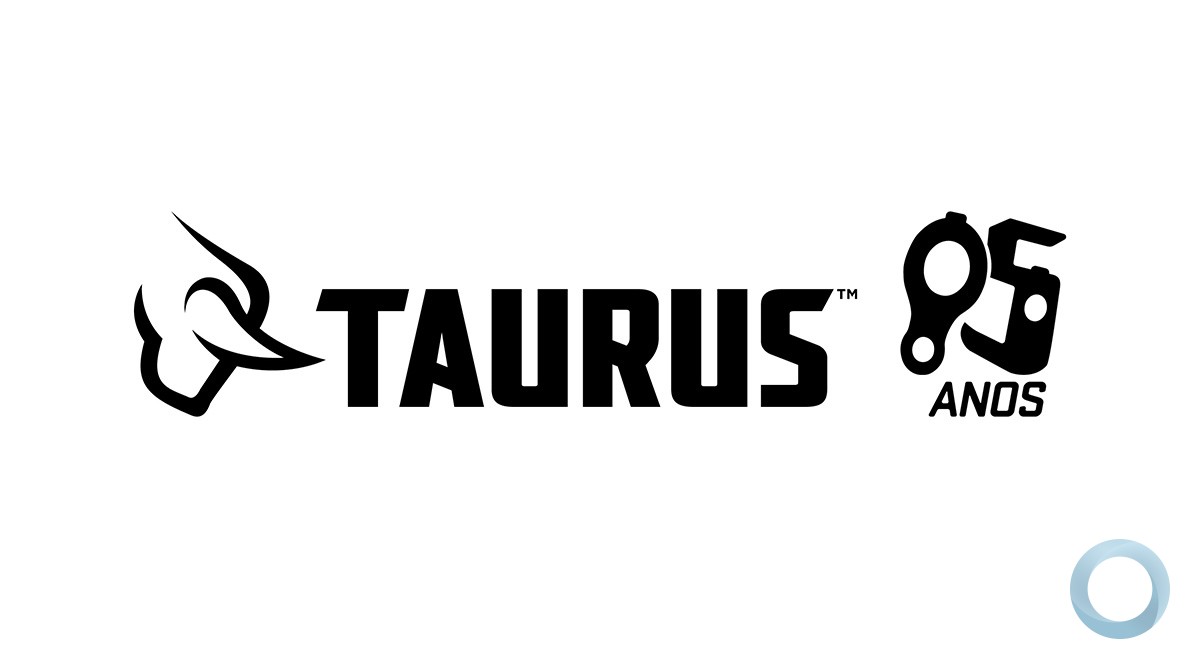As Ilhas Malvinas – Falkland, para os ingleses – ficam a cerca de 500 quilômetros do litoral argentino, mas são administradas e ocupadas pela Grã-Bretanha desde 1883. Por isso, o arquipélago sempre foi motivo de tensão entre os dois países, que entraram em guerra em 1982. Derrotada em dois meses de conflito, a Argentina se rendeu e os britânicos seguiram como donos do território onde vivem hoje cerca de 3.000 pessoas. O confronto completa 30 anos nesta segunda-feira, com um protesto marcado em Buenos Aires. Recentemente, a presidente argentina Cristina Kirchner decidiu reclamar novamente a soberania sobre a ilha, o que reacendeu o clima de tensão entre as duas nações.
Apesar do impasse, a tensão recente não lembra em nada a estretégia da ditadura do general Leopoldo Galtieri que, em 1982 tomou as Malvinas pela força militar, interrompendo 149 anos de controle da Grã-Bretanha sobre as ilhas. Naquele ano, o mundo assistiu a uma guerra entre dois países separados por 13.000 quilômetros de mar, em um ponto perdido no mapa-mundi e em torno de um objetivo que até então era incapaz de valer um tiro.
Desde o início da guerra, deflagrada oficialemente com o primeiro bombardeio britânico, a superioridade estava com a rainha Elizabeth II, que tinha uma frota moderna e centralizada, com navios pequenos e rápidos. Para enfrentar – e vencer – essa guerra era preciso ter força econômica, poderio militar e coesão política, tudo que faltava à Argentina e sobrava a sua rival. Com os primeiros ataques ainda vindos do mar, a guerra ameaçava tranformar-se em um pesadelo para o país latino-americano antes mesmo do combate chegar à terra firme.
Menos de 20 dias depois do primeiro ataque e de impor um bloqueio naval que isolou a argentina nas Malvinas, os ingleses chegaram ao continente. A bandeira britânica voltou a tremular no território ocupado até então pela rival. Era o começo do fim da arriscada aventura militar lançada pela Argentina. Era também o clímax da lenta agonia que por quase dois meses arrastou duas nações para uma guerra de carne e osso. A partir de então, Argentina e Inglaterra se enfrentaram com força total. A vantagem estava do lado britânico. Em Buenos Aires, o chanceler argentino Nicanor Costa Méndez sintetizou a situação de seu país nas Malvinas: “Apesar de tudo, acredito em milagres”, disse parafraseando a última página do diário de Anne Frank.
O milagre não veio e a rendição argentina foi assinada em junho de 1982, menos de três meses depois da ocupação. “Foi duro, muito duro. Para um soldado deve ser o momento mais doloroso da sua vida. O que se deve pensar quando se tem a responsabilidade de vida e morte sobre 10.000 homens? Frente às evidências, o melhor seria a rendição. Mas uma rendição honrosa”, disse semanas mais tarde o general Mario Benjamín Menéndez em entrevista exclusiva à VEJA. Como comandante das forças argentinas nas ilhas, foi ele quem assinou a rendição de seu país.
Revisitada por VEJA quatro anos após o fim do confronto, as Malvinas ostentavam uma condição bastante singular. As ilhas eram então o único teatro de guerra no mundo onde o número de civis mortos se contava nos dedos de uma mão – três mulheres vítimas de bombardeio – e o único também onde as condições de vida melhoraram tão logo terminou a guerra.
Na reportagem, seus habitantes lamentavam a guerra, mas acreditavam que com os britânicos a prosperidade era maior. As melhorias trazidas pela guerra iam desde a uma agência bancária até um moderno sistema de comunicações. “Finalmente chegamos ao século XX” resumiu na época uma morador. “Existe um futuro bom para nós”, garantiu.