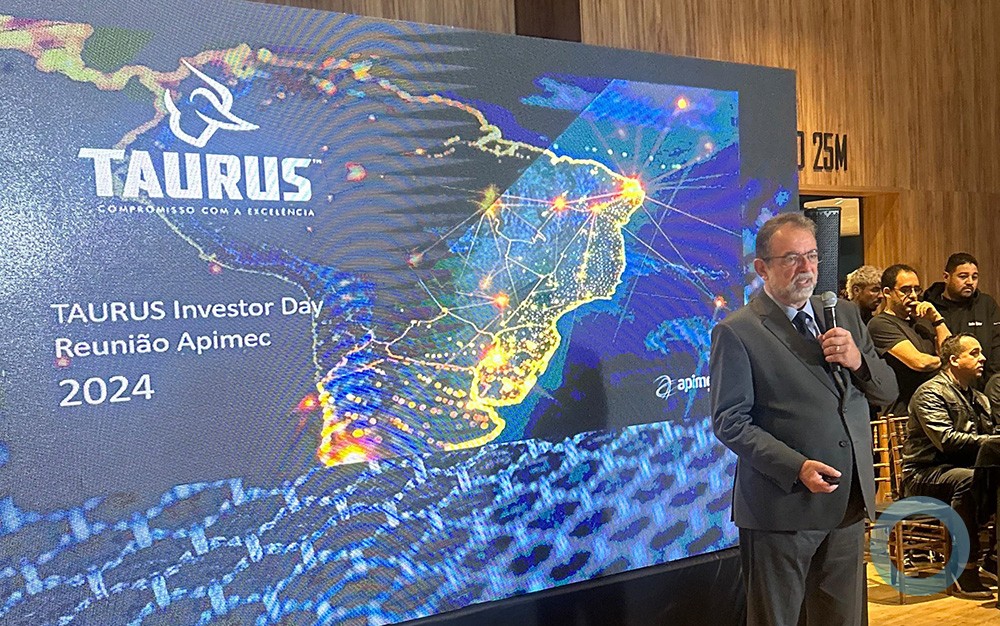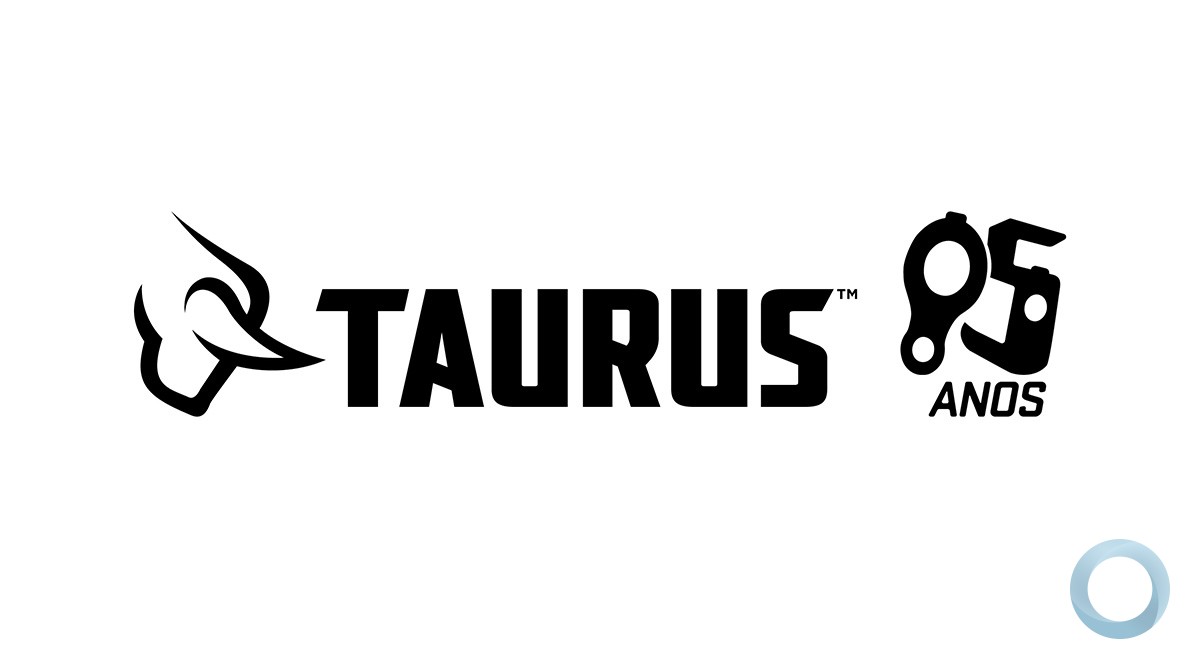Fernando Henrique Cardoso
Domingo de carnaval, convenhamos, não é o melhor dia para ler artigo sobre política internacional. Mas, que fazer? Coincidiu que o dia de minha coluna fosse hoje e não tenho jeito nem vontade de escrever sobre as alegrias de momo. Por mais que nos anestesiemos no carnaval, o meio circundante não alenta alegrias duráveis.
Comecemos do princípio. Acho que houve um erro estratégico desde o governo Lula na avaliação das forças que predominariam no mundo e da posição do Brasil na ordem internacional que se transformava. Não me refiro ao que eu gostaria que ocorresse, mas às tendências que objetivamente se foram configurando. Nossa diplomacia se guiou pela convicção de que um novo mundo estava nascendo e levou o presidente, em sua natural busca de protagonismo, a ser o arauto dos novos tempos. A convicção implícita era a de que pós-Muro de Berlim, depois de breve período de quase hegemonia dos Estados Unidos, pregada pelos seus teóricos do neoconservadorismo, e da côrte de equívocos da política externa daquele país (invasão do Iraque, do Afeganistão, isolamento da Rússia, apoio acrítico a Israel em sua política de assentamentos de colonos etc.) e dos desastres provocados por estas atitudes, assistiríamos a uma correção de rumos.
De fato, houve essa correção de rumos, mas a direção esperada pela cúpula da diplomacia brasileira e por setores políticos sob influência de alas antiamericanas do PT era a do "declínio do Ocidente", com a perda relativa do protagonismo americano e a emergência das forças novas: a China (o que ocorreu), o mundo árabe, em especial os países petroleiros, a África e, naturalmente a América Latina, como parte deste "terceiro mundo" renascido. Esta visão encontra raízes em nossa cultura diplomática desde os tempos da "política externa independente", de Jânio Quadros, e encontra eco nos sentimentos de boa parte dos brasileiros, inclusive de quem escreve este artigo. Sempre sonhamos com um mundo multipolar no qual "os grandes" tivessem que compartilhar poder e nós, brasileiros, pouco a pouco nos tornássemos parceiros legítimos do grande jogo de poder global.
Contudo, uma coisa é desejar um objetivo, outra é analisar as condições de sua possibilidade e atuar para que, dentro do possível, buscando ampliar seus limites, nos aproximemos do que consideramos o ideal. Nisso é que o governo Lula calculou mal. Se a Europa, sobretudo depois da crise financeira de 2008, perdeu tempo em tomar decisões e está até hoje embrulhada na indefinição sobre até que ponto precisará se integrar mais (compatibilizando as políticas monetárias com as fiscais), ou voltar, na linguagem de De Gaulle, a ser a "Europa das Pátrias", nem a China se perdeu nos devaneios maoístas nem os Estados Unidos no neoconservadorismo que acreditava que a América poderia agir como se fosse uma hiperpotência. Pelo contrário, a China se lançou às reformas para inverter o polo investimento/consumo, diminuindo aquele e aumentando este, e os americanos deixaram de lado a ortodoxia monetarista, recalibraram a sua política externa e se jogaram à inovação das fontes de energia. Hoje, propõem uma coexistência competitiva, mas pacífica com a China, baseada no comércio, e lançam cordas para que a Europa saia do marasmo e se incorpore aos Estados Unidos, que funcionariam como dobradiça entre a China e a Europa, formando um formidável tripé.
Enquanto isso, o Brasil faz reuniões com os árabes, que não deixam de ter sua importância, propõe negociações sobre o Irã em coordenação com a Turquia (imagine-se se os turcos fariam o mesmo, propondo-se a ajudar o Brasil para resolver o litígio das papeleiras entre Uruguai e Argentina…), abre embaixadas nas mais remotas ilhas para, com o voto de países sem peso na mesa das negociações, chegar ao Conselho de Segurança. Por outro lado, comporta-se timidamente quando a Petrobras é expropriada pela Bolívia, interfere contra o sentimento popular em Honduras, abstém-se de entrar em bolas divididas, como no conflito argentino-uruguaio, além de calar diante de manifestações antidemocráticas quando elas ocorrem nos países de influência "bolivariana".
Noutros termos: escolhemos parceiros errados, embora, em si mesma a relação Sul/Sul seja desejável, e menosprezamos os atores que estão saindo da crise como principais condutores da agenda global, exceção parcial feita à China (neste caso, não há menosprezo, mas falta de estratégia). Perdemos liderança na América Latina, hoje atravessada pela cunha bolivariana que parte da Venezuela com apoio de Cuba, estende-se acima até a Nicarágua, passa pelo Equador, abaixo, desce direto à Bolívia e chega à Argentina. No outro polo, consolida-se o Arco do Pacífico, englobando Chile, Peru, Colômbia e México e nós ficamos encurralados no Mercosul, sem acordos comerciais bilaterais e, pior, calados diante de tendências antidemocráticas que surgem aqui e ali.
Ainda agora, na crise da Venezuela, é incrível a timidez de nosso governo em fazer o que deve: não digo apoiar este ou aquele lado em que o país rachou, mas pelo menos agir como pacificador, restabelecendo o diálogo entre as partes, salvaguardando os direitos humanos e a cidadania. O Mercosul, desabridamente se põe do lado do governo de Maduro. O Brasil, timidamente, encolhe-se enquanto o partido da presidente apoia o governo venezuelano, sem qualquer ressalva às mortes, aprisionamento de oposicionistas e cortinas de fumaça que querem fazer crer que o perigo vem de fora e não das péssimas condições em que vive o povo venezuelano.
Agindo assim, como esperar que, chegada a hora, a comunidade internacional reconheça os direitos que cremos ter (e de fato poderíamos ter) de tomar assento nas grandes decisões mundiais? Fomos incapazes de agir, ficamos paralisados em nossa área de influência direta. A continuar assim, que contribuição daremos a uma nova ordem global? Chegou a hora de corrigir o rumo. Que a crise venezuelana nos desperte da letargia.