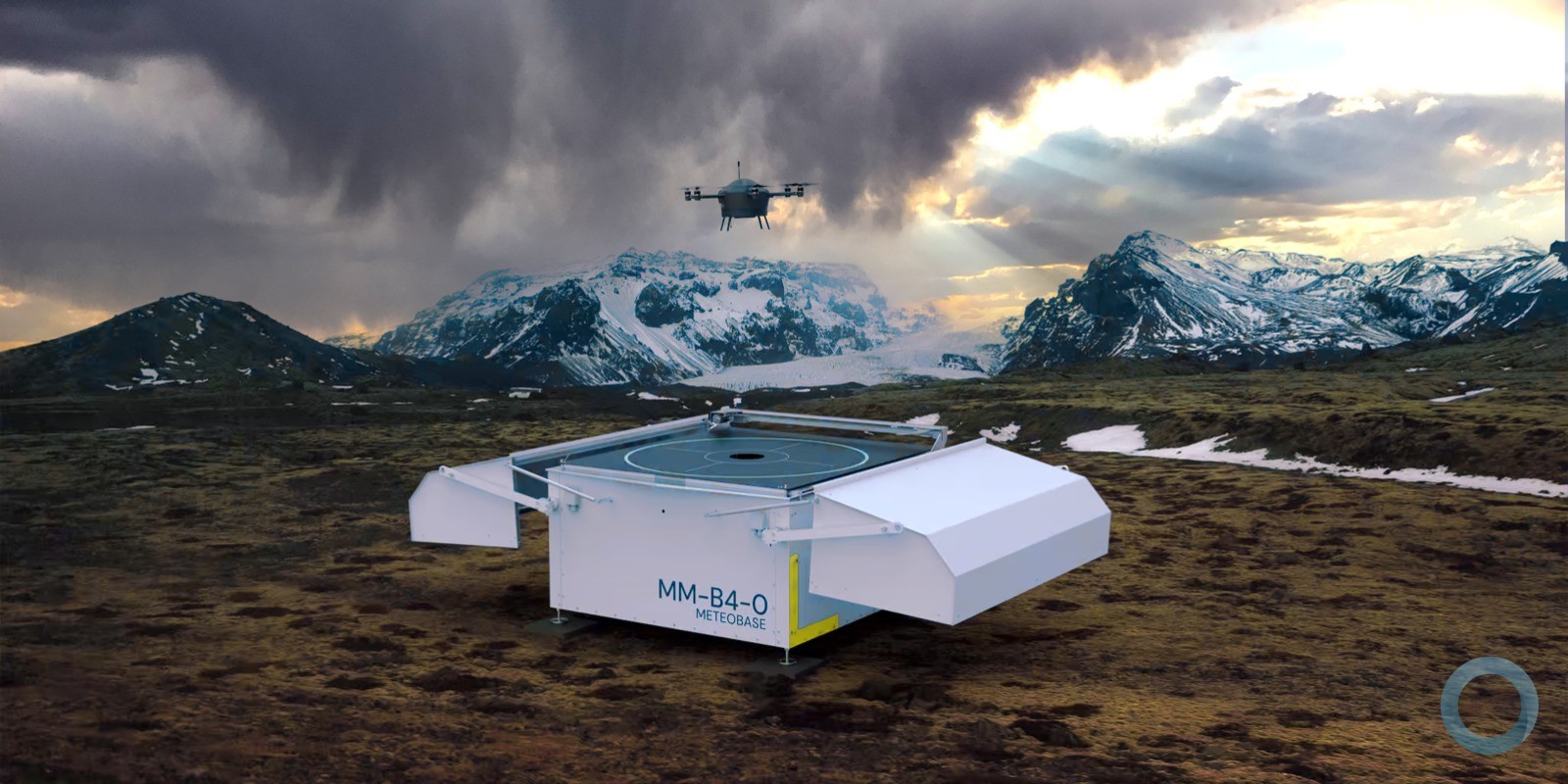O aumento da tensão diplomática com os Estados Unidos e a disposição do governo Donald Trump em facilitar o emprego da bomba atômica levaram os chineses a aumentar seus treinamentos para o caso de um ataque nuclear.
Desde abril, a Força de Foguetes do Exército de Libertação Popular tem feito exercícios até aqui inéditos, em conjunto com outros ramos das Forças Armadas.
O jornal honconguês South China Morning Post compilou relatos distribuídos pelos militares chineses em redes sociais das forças e do jornal PLA Daily, o diário do Exército.
Dois vídeos recentes, postados no fim de semana, chamaram a atenção. Num, quatro brigadas de primeiros-socorros vão ao socorro de soldados numa base a 2.000 km de distância que foi atacada com uma ogiva nuclear à noite.
No outro, é descrito o maior exercício já feito sobre o tema, com milhares de soldados e centenas de veículos militares protegidos contra radiação sob o sol escorchante do deserto do Gobi.
Segundo disse ao jornal o especialista Antony Wong Tong, a operação no Gobi envolveu tanques pesados, indicando também a ideia de um confronto armado dentro do cenário de ataques nucleares.
Diferentemente dos exercícios aeronavais recentes, destinados a enviar sinais de força e preparação para os Estados Unidos e rivais como Taiwan, essas simulações são vistas por analistas militares chineses como uma preocupação real do Exército de tratar de uma área subestimada.
Há duas semanas, os EUA posicionaram três bombardeiros furtivos B-2, com capacidade nuclear, na sua base na ilha de Diego Garcia, no oceano Índico.
Desde 2017, com a chegada de Trump ao poder, os países vivem um crescente conflito. Essa Guerra Fria 2.0 envolve a área econômica, tecnológica, diplomática e militar -os americanos elevaram seus exercícios no contestado mar do Sul da China, levando a uma reposta proporcional de Pequim, que reclama 85% da área para si.
A ambiguidade deliberada da política nuclear norte-americana é outro fator de estresse. Os EUA flexibilizaram os cenários em que podem empregar armas atômicas ao revisar suas diretrizes, em 2018. A ideia ampliar o leque de situações em que pode ser feito o uso tático, pontual, de armas menos destruidoras.
Por ordem de Trump, foi desenvolvida uma nova ogiva, a W76-2, de baixa potência em comparação com as armas usualmente usadas. Ela foi colocada em operação em mísseis disparados por submarinos Trident no começo deste ano.
O problema é que uma explosão nuclear é sempre catastrófica e, pior, pode levar a uma escalada que chegue à troca de fogo com as armas estratégicas -aquelas destinadas a inviabilizar o inimigo e que, considerando o arsenal existente, acabariam com a civilização.
EUA e Rússia concentram mais de 90% das bombas existentes, e têm 1.750 e 1.570 armas prontas para uso, respectivamente. Já a China vem num distante terceiro lugar, com 320 ogivas.
Ainda assim, os americanos buscaram incluir Pequim nas travadas negociações do Novo Start (sigla inglesa para Tratado de Redução de Armas Estratégicas), que vence em fevereiro de 2021.
Não deu certo, mas na semana passada Washington disse que aceitaria renovar o acordo se os russos topassem incluir mísseis de menor alcance na cesta de armas a serem verificadas de lado a lado.
Nos últimos anos, o governo Trump retirou os EUA de dois acordos importantes de controle de armas e mudou sua doutrina, enquanto o russo Vladimir Putin anunciou o desenvolvimento de uma nova família de ogivas estratégicas.
A opção americana por armas relativamente menos potentes assustou o Kremlin, que reforçou sua própria doutrina e disse que qualquer míssil disparado de submarino contra si ou aliados seria considerado uma arma nuclear e receberia retaliação atômica.