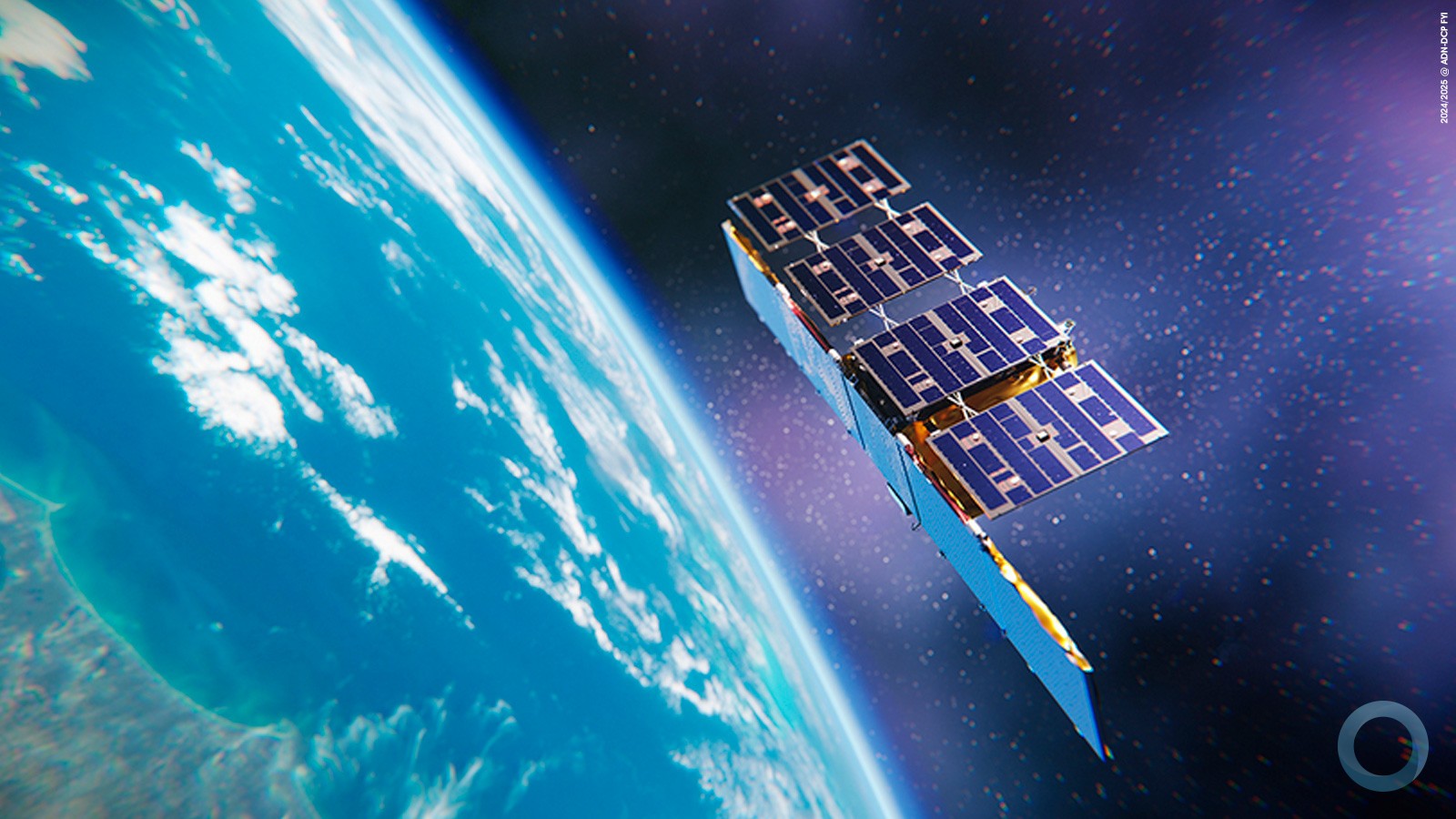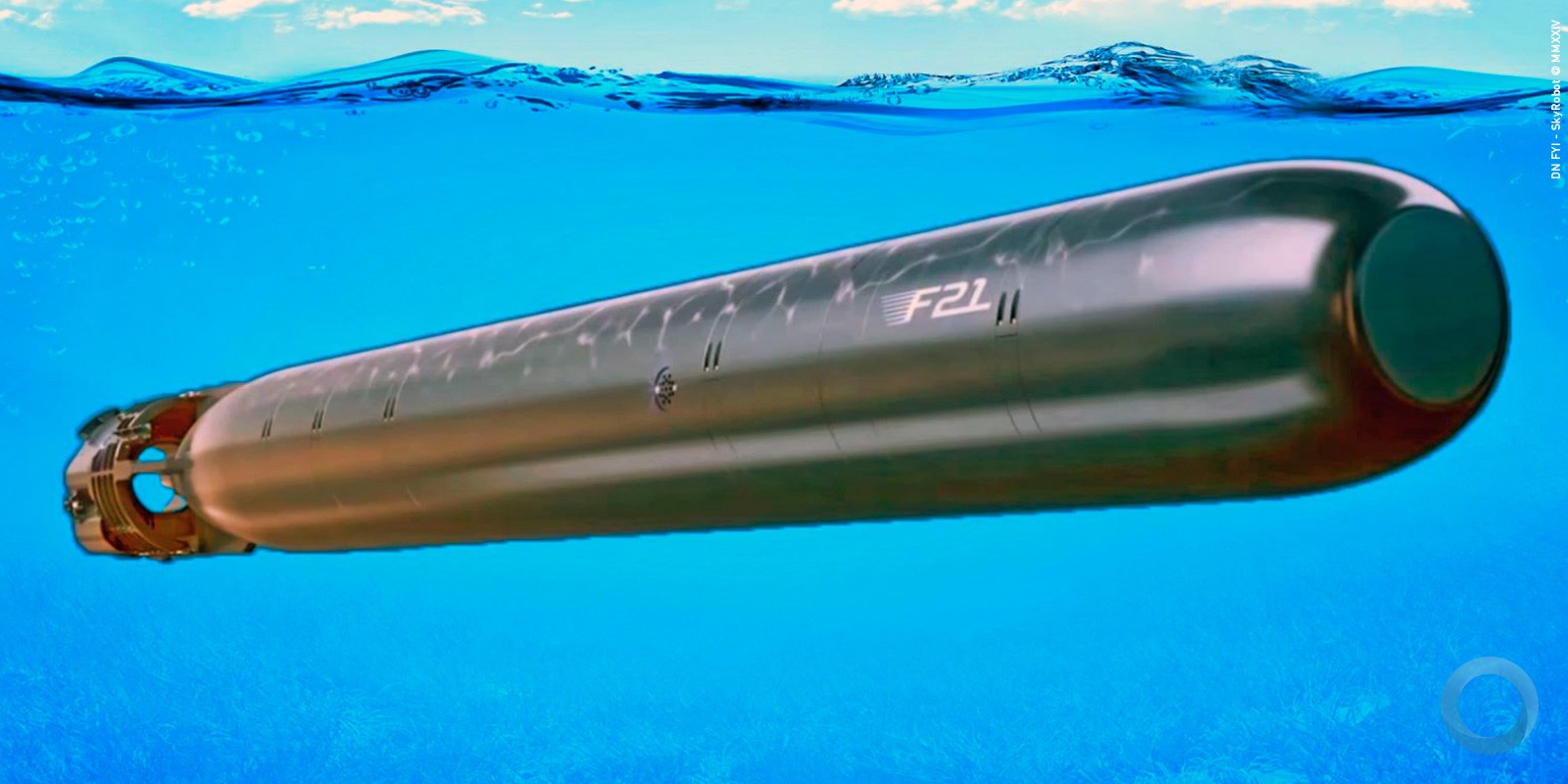“Global Britain” abandonada na pista do aeroporto de Cabul
Lorenzo Carrasco
e Silvia Palácios
Movimento Solidariedade Ibero-Americano – MSIa
A revista The Economist, tradicional arauto da City de Londres, empregou dois recentes editoriais para expressar a sua angústia existencial pelo declínio estratégico dos Estados Unidos, com o esgotamento da ilusória visão hegemônica do “Novo Século Americano”, e o colapso do liberalismo clássico, cuja promoção foi a raison d’être da sua própria fundação, há 178 anos.
“A melhor maneira de navegar por mudanças abruptas em um mundo dividido é por meio de um compromisso universal com a dignidade individual, o mercado livre e o Estado mínimo. No próprio Ocidente, os populistas de direita e esquerda estão indignados e ralham contra o liberalismo por seu suposto elitismo e privilégios” – diz o editorial de 5 de setembro.
O texto prossegue em tom de exaltação: “Nos últimos 250 anos, o liberalismo clássico ajudou a promover avanços incomparáveis. Isso não vai desaparecer como fumaça. No entanto, ele passa por um teste severo, da mesma forma que cem anos atrás, quando os cânceres do bolchevismo e do fascismo começaram a consumir as entranhas da Europa liberal. É hora de os liberais saberem o que estão enfrentando e como reagir.”
O que agrava a angústia da revista é a fragmentação social dentro dos Estados Unidos entre populistas de esquerda e direita, identificando-os como inimigos internos do liberalismo clássico dentro do país. Divisão agravada pela nova geração de liberais de esquerda radicais que defendem a ideologia de gênero e os direitos das minorias. Diz o texto:
“Em nenhum outro lugar do mundo essa luta é tão feroz quanto nos Estados Unidos, onde, na semana passada, a Suprema Corte decidiu não abolir uma lei antiaborto draconiana e bizarra. A ameaça mais perigosa para o lar espiritual do liberalismo vem da ala direita de [o ex-presidente Donald] Trump. Os populistas denunciam as conquistas liberais, como a ciência e o estado de direito, chamando-as de fachadas de uma conspiração de um estado oculto contra o povo”.
O que a centenária revista falha em pensar é que a fragmentação das sociedades ocidentais, não apenas dos Estados Unidos, é o resultado da exacerbação da ideia de que as liberdades individuais são antagônicas à força dos Estados nacionais. Na verdade, a “Nova Ordem Mundial” surgida após a dissolução do Império Soviético, que trouxe junto com ela a ideia da globalização financeira, partiu do pressuposto de que o “Novo Século Americano” se imporia não apenas sobre as cinzas do regime comunista, mas acima de tudo, sobre o sistema de Estados nacionais soberanos baseado no Tratado de Westfalia do século XVIII. Este, e não o coletivismo marxista, tem sido o inimigo permanente do liberalismo radical clássico defendido pelos angustiados editorialistas.
A ascensão econômica da China, a reconstrução da Rússia como potência cristã e a transformação da Eurásia como “locomotiva” do desenvolvimento econômico mundial são os principais “valentões e canceladores” da utopia liberal, como os qualifica o editorial. Sob este ponto de vista, o sistema liberal clássico só pode renascer com a reafirmação hegemônica dos Estados Unidos, baseada no “predomínio tecnológico e militar” e na recuperação da confiança no liberalismo clássico, abalada na população estadunidense e entre os seus grupos de influência.
Nos últimos 250 anos, intervalo histórico indicado pelo editorial, os autores cometem uma grande omissão: o fato de que os próprios Estados Unidos terem representado, até agora, a maior ameaça ao sistema liberal clássico de economia, de Adam Smith a David Ricardo, cuja teoria do valor foi a inspiração para as teses de Karl Marx em O Capital, redigido na Biblioteca Real londrina.
Referimo-nos ao Sistema Americano de Economia Política, surgido da Revolução Americana de 1776, por meio do qual as ex-colônias da América do Norte se libertaram do jugo do Banco da Inglaterra e criaram um sistema nacional de crédito idealizado pelo secretário do Tesouro Alexander Hamilton, para promover um sistema de proteção industrial como base para a prosperidade da nova nação americana.
A própria fundação da Economist, em 1843, não se deu exatamente para promover “avanços incomparáveis”, mas para combater as chamadas Leis do Milho (Corn Laws), um conjunto de tarifas protecionistas para a produção nacional de alimentos, que vigorou de 1815 a 1846 e cuja revogação, apesar de prejudicar a própria agricultura inglesa, serviu como uma forte propaganda em favor de um sistema de livre comércio total em todo o mundo.
Foi contra essa onda de livre comércio que, mais uma vez, representantes do Sistema Americano se prontificaram a lutar. O primeiro foi o grande economista Henry Carey (1793-1879), que concebia a economia como um projeto civilizatório e foi devastador em sua polêmica contra o sistema de livre comércio britânico, que denominava “sistema ricardiano-malthusiano”. Em seu livro The Harmony of Interests (A harmonia de interesses), publicado apenas oito anos após a fundação da Economist, ele estabeleceu as diferenças básicas entre os dois sistemas.
O outro grande protagonista do contra-ataque ao laissez-faire britânico foi o alemão Friedrich List, que escreveu o livro clássico sobre o protecionismo econômico, O Sistema Nacional de Economia, e foi o mentor intelectual do estabelecimento da União Aduaneira alemã (Zollverein), com a qual Bismarck lançou as bases do desenvolvimento econômico e industrial da Alemanha unificada.
De fato, a recente ascensão econômica da China é amplamente inspirada no Sistema Americano, seguindo os exemplos próximos do Japão, Coreia do Sul, Taiwan e Cingapura.
Sem deixar de apontar as divisões internas nos EUA, a porta-bandeira da City lamenta: “É preciso muito trabalho para ser um liberal genuíno. Com o colapso da União Soviética, após o desaparecimento de seu último rival ideológico, as elites arrogantes perderam o contato com a humildade e o autoquestionamento liberal cedeu ao hábito de acreditar que sempre estiveram corretos… Depois da crise financeira, produziram uma economia que cresceu muito lentamente para que as pessoas sentissem alguma prosperidade.” Portanto, “isso permitiu aos oponentes do liberalismo culpá-lo por imperfeições ancestrais e, por causa do comportamento racial da América, insistir que o país nasceu podre. Washington está quebrado, a China está avançando e as pessoas estão inquietas”.
Outra manifestação sintomática do espírito angustiado da revista foi o editorial “As verdadeiras lições do 11 de setembro”, sobre os ataques de 2001, que explicita o grande temor dos oligarcas londrinos: “Os Estados Unidos perderam a sua autoridade moral… o atoleiro do Oriente Médio tem sido uma distração da verdadeira história do início do século XXI: a ascensão da China.”
Para os autores:
[O presidente Joe] Biden está bem qualificado para juntar as peças, com vasta experiência em relações exteriores e conselheiros que estão elaborando uma doutrina Biden. Seus objetivos são acabar com as guerras externas, complementar o salto mortal para a Ásia, enfrentar novas esferas, como a segurança hemisférica e a reconstrução de alianças globais.
A revista The Economist apóia grande parte dessa agenda, principalmente a ênfase nas prioridades do século XXI, como as mudanças climáticas. A atitude do governo com relação aos direitos das mulheres é melhor que a do seu antecessor – e pude afetar mais a geopolítica do que a maioria das pessoas imagina… Um enfrentamento com a China pode retirar o foco das mudanças climáticas.
O risco é que o matiz doméstico de Biden deixe sua política externa menos eficaz. Os EUA precisam de uma nova forma de coexistir com a China.
Os Estados Unidos precisam estar preparados para usar o poder militar para proteger os direitos humanos no exterior.
A conclusão:
A política externa é guiada por fatos e estratégia. [O presidente George W.] Bush operou com base em uma plataforma de conservadorismo compassivo, não em uma guerra contra o terrorismo. Biden precisa improvisar em resposta a uma época caótica. Mas não se deve imaginar que uma política externa subordinada a uma política interna revigoraria a pretensão estadunidense de liderar o mundo.
Na verdade, trata-se da expressão de uma melancolia da época de ouro da aliança anglo-americana, por meio da qual a Grã-Bretanha conseguiu contornar em parte os efeitos da sua própria derrocada imperial. De fato, com o “Brexit” e o declínio estratégico dos EUA, a utópica “Grã-Bretanha Global” (Global Britain) do primeiro-ministro Boris Johnson é apenas o canto do cisne de um império e de seu liberalismo clássico. A bem da verdade, poder-se-ia dizer que os nostálgicos delírios britânicos ficaram abandonados na pista do aeroporto de Cabul.