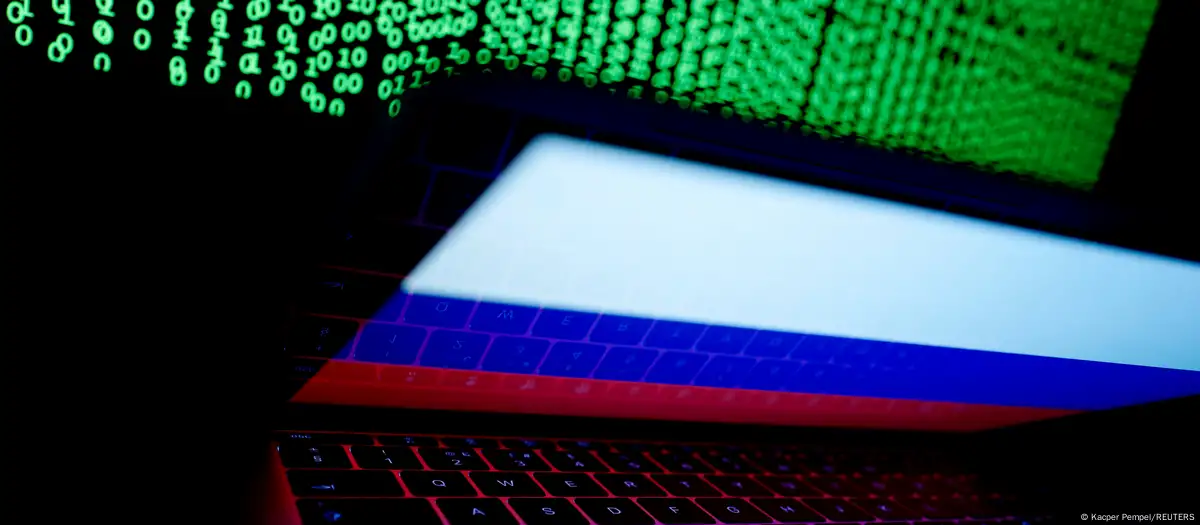Carlos Wagner
http://carloswagner.jor.br/
Nos tempos em que os repórteres usavam calças Jeans surradas, cabelos e barbas longas e maltratadas e as repórteres trajavam vestidos longos e coloridos, cabelos revoltados e muitos colares no pescoço. E que, na redação, o som das máquinas de escrever parecia uma sinfonia confusa, e pairava uma nuvem baixa da fumaça do cigarro. Nesse tempo, existia um personagem chamado repórter de policia.
Alguns jornais tinham a editoria de policia. Mas a maioria só tinha alguns repórteres que faziam a cobertura policial. Geralmente eram os jornalistas mais velhos e tarimbados da redação. Eles entendiam o linguajar dos delegados, dos agentes policiais, dos advogados de porta de cadeia, da bandidagem e da malandragem.
Até a década de 1980, a cobertura policial foi uma das melhores escolas na formação de repórteres no Brasil. Com a democratização do país, em 1985, e a volta da liberdade de imprensa, assuntos como política, economia e questões sociais ganharam uma grande relevância nos noticiários e empurraram para esquecimento a cobertura policial.
A bem da verdade, que se diga uma coisa. Em parte, a cobertura policial caiu no esquecimento porque, enquanto as outras editorias cuidavam de assuntos cada vez mais relevantes para o cotidiano do nosso leitor, os casos de polícia se limitavam aos crimes cometidos por gente pobre, principalmente o chamado “ladrão de galinha” ou o “chinelo”, como define no jargão das redações os bandidos comuns.
Vez ou outra, acontecia um crime passional, ou um sequestro em uma família de bacanas, como eram chamados os de classe média e os ricos pelos repórteres de polícia. Nessas ocasiões, os repórteres da cobertura policial voltavam a se engrandecer dentro das redações. Não é por outro motivo que a maioria dos roteiristas de novelas e dos autores de livros e textos que se tornaram ícones da nossa profissão nasceu entre os antigos repórteres de polícia.
Comecei a trabalhar em redação em 1979 e tive o privilégio de conviver com os repórteres policiais e a aprender com eles as “manhas” da profissão. Meu campo de trabalho, inicialmente, foi os conflitos agrários – sem terra, fazendeiros, índios e garimpeiros. Saber como funcionava a polícia que era enviada pelo governo para reprimir os conflitos facilitou muito a minha vida e deu ao meu trabalho um conteúdo diferente dos concorrentes. Posteriormente, acrescentei às minhas coberturas assuntos de crime organizado e histórias das fronteiras. Novamente, o que aprendi com “os caras” foi importante.
Talvez, por uma das ironias da história, a tecnologia gerada nas coberturas policiais volta a ser necessária nas redações. O motivo? É simples, como falava um editor de polícia de um jornal carioca com quem eu sempre conversava. Como ele dizia: “os ratos estão batendo na porta dos bacanas”. Uma explicação: “ratos” era como os bandidos chamavam os policiais, e a palavra acabou sendo incorporada ao linguajar das antigas redações.
Nos últimos meses, não foi nem uma ou duas, mas várias vezes em que policiais, principalmente da antiga, conversaram comigo sobre a fragilidade de conhecimentos dos repórteres que os entrevistam. Lembrei a um deles que antigamente arrancar alguma coisa relevante deles era uma luta. Agora eles querem falar e não têm para quem. Não deixa de ser uma coisa esquisita. É o caso das entrevistas coletivas da Lava Jato.
Os delegados federais e os procuradores da República não têm como acompanhar online o trabalho dos agentes em campo. Já pegam as informações “mastigadas” pelo escrivão do inquérito. Um comentário. Na maioria das vezes, as informações que vão para o “papel” – inquérito – deixam de fora o que não interessa. Mas não deixam de ser informações relevantes, e muitas vezes revelam os bastidores do acontecimento.
Se observarmos as entrevistas coletivas, temos um quadro interessante: na maioria das vezes, um repórter que não entende de como as coisas acontecem dentro da polícia entrevistando um delegado ou um procurador da República que “comeu na mão” do escrivão – o termo, usado no jargão de velhos repórteres, para dizer que dependeu das informações. O leitor fica com um monte de dúvidas sobre o que aconteceu. A primeira lição que se aprende nos tempos dos repórteres policiais é ter fontes entre os investigadores e os escrivães. O delegado é o “boneco falante” – na gíria de delegacia, significa que ele repete as informações.
Agora a minha opinião pessoal. O Rio de Janeiro foi, é e continuará sendo o maior berçário de repórter policial da América do Sul. O insolúvel, até agora, caso da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do seu motorista Anderson Pedro Gomes, executados em março. Com exceção de algumas reportagens policiais feitas por repórteres calejados, a maioria das matérias – eu tenho lido todas – repete a ladainha oficial sobre o caso. E qual é o motivo por que isso acontece? Simples.
A extinção dos repórteres de policia nas redações determinou o corte da tecnologia de como fazer a cobertura desse tipo de evento. Tenho dito nas minhas palestras que a questão não é ser velho, de meia idade ou jovem em uma redação. A questão é que a transmissão da tecnologia de apuração foi cortada com as demissões em massa. É como se um jornal fosse um restaurante, e um entendido demitisse o cozinheiro que sabia de cabeça as receitas.
Então, hoje as grandes empresas de comunicação têm um problema. A cobertura policial virou tão importante como a de política, economia e questões sociais. Mas a maioria das redações não tem mais a “escola da cobertura policial”. O que hoje chamamos de “jornalista investigativo” não é sinônimo de pessoa que entende de cobertura policial. Uma das saídas das empresas é chamar esse antigo repórter policial para fazer oficinas sobre o assunto. Já os repórteres, principalmente os jovens, podem solucionar o caso indo aos botecos onde esse pessoal da antiga enche a cara e fala mal deles.
Nós, repórteres, temos que ter como norte o seguinte: nosso objetivo é ser lido, ouvido e assistido pelos nossos leitores. E ouvir dele no final de uma matéria: “esse repórter sabe das coisas”. O resto é conversa de consultor e burocrata. Duas pragas que assolam o jornalismo nos dias atuais.