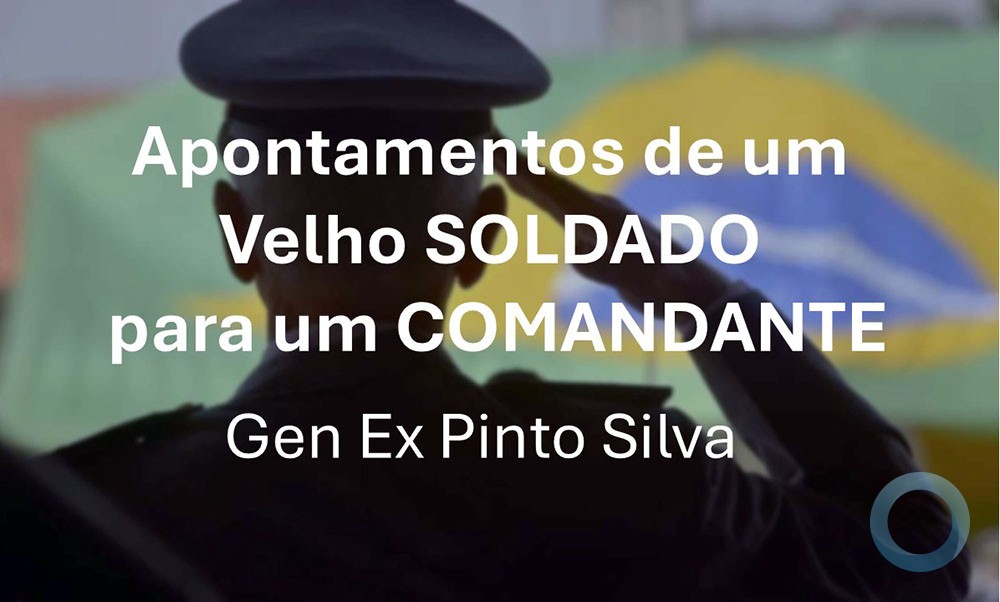Subtenente Marco Antônio do Carmo Rodrigues
A tecnologia militar da atualidade muito nos deslumbra. Na era da chamada inteligência artificial, com drones de conduta quase autônoma, somos apresentados, a todo o momento, a mecanismos cada vez mais rápidos e eficientes, fruto de um processo de modernização contínua, que nos direciona a crer que a guerra será cada vez mais curta e limpa.
Vemos uma oferta abundante de recursos tecnológicos, cada vez mais aperfeiçoados e diversificados, à disposição dos Exércitos que puderem dispor de orçamentos suficientes por parte de seus governos.
Porém, retratar essa realidade dinâmica e não menos volátil, a era da informação, que nos liga por um chip, pode oferecer uma visão supervalorizada sobre o real papel que a tecnologia cumpre na chamada Guerra Moderna. Por outro lado, desde que o homem, pelo uso da inteligência, sobrepujou aos demais animais na arena africana, descortina-se uma evolução gradativa da aplicação dessa capacidade na guerra desde tempos imemoriais.
Trazendo esse atributo da intelectualidade para a resolução de questões ligadas a conflitos, dá-se a gênese da inteligência militar enquanto arma de guerra. Evidências arqueológicas, cada vez mais frequentes, apontam para o peso considerável do uso dessa arma nas vitórias dos hebreus em sua épica marcha rumo à Terra Prometida, quando da fuga do Egito. Cartago, Roma, Veneza, entre outros fariam corpo a essa tendência.
Pois bem, tecnologia ou inteligência militar? Força e ferramentas para lutar ou o conhecimento do inimigo? Analisando de forma bem genérica esses dois eixos evolutivos de componentes distintos e essenciais da guerra, tecnologia e inteligência, e trazendo esse debate mais para nosso tempo, podemos estabelecer uma provocação: existe dissonância entre capacidade tecnológica e emprego de inteligência militar, particularmente nos conflitos armados dos últimos 150 anos? E caso possamos dizer que sim, qual deve ser o peso desse descompasso no resultado das últimas guerras, especialmente na expectativa que se constrói quando uma força militar com vantajosa tecnologia é empregada em campanha?
Quem se debruçar a analisar superficialmente os conflitos bélicos desde que essa onda modernizadora (mais especificamente desde o fim do século XIX) começou a se refletir nos Teatros de Operações, pode se surpreender com um panorama ainda pouco animador no que se refere à relação entre força mais tecnológica e vitória no combate.
Nesse decurso temporal moderno, ao invés de conflitos rápidos e limpos, com ataques coordenados e exposição cada vez menor de homens reais ao fogo inimigo, temos uma grande incidência de atoleiros táticos inesperados com grandes morticínios. O cheiro de “sangue e pólvora”, uma das experiências sensitivas mais dramáticas da história humana, continua presente em todos os conflitos armados deflagrados pelo mundo.
A empreitada norte-americana no Iraque, intensificada em 2003 e prolongada por oito anos, é uma das mais recentes faces dessa realidade. Há de se anotar aqui, também, a invasão russa no Afeganistão (prologada por mais de oito anos) e a não menos fatídica ação bélica encabeçada pelos EUA no Vietnã (estendida duramente por mais de 10 anos).
É evidente que tais conflitos não espelharam a clássica simetria da guerra regular, uma vez que tanto estadunidenses quanto russos (ficando aqui nos dois paladinos mestres) lutaram contra combatentes irregulares, quer sejam islâmico radical quer sejam mujahidins afegãos ou guerrilheiros comunistas norte-vietnamitas. Ainda assim, não é notável que a disparidade entre o poder tecnológico de um contra o “amadorismo” do outro lado não tenha sido decisivo para abreviar as campanhas?
Mesmo que consideremos fatores mais complexos que possam explicar, por exemplo, as causas da demora extenuante na consecução dos mínimos objetivos norte-americanos no Iraque, como a incapacidade de estabelecer alianças fiéis com uma população tão alheia aos valores ocidentais, ainda assim a lógica não apontaria dificuldades muito menores a serem enfrentadas? Abre-se uma possibilidade para se especular o peso de erros analíticos crassos a justificar tais resultados práticos inesperados.
A história das guerras no período pós-Segunda Revolução Industrial sinalizou de forma quase inconteste que a prevalência da tecnologia seria a tônica da guerra moderna. Em todos os conflitos que opuseram partes tecnologicamente desproporcionais, os resultados foram expressivos. Foi o que John Keegan chamou de “modo de guerrear ocidental”.
Desde as operações navais franco-britânicas nas chamadas Guerras do Ópio (1839 e 1856), com uma potência mundial sobrepujando uma China ainda aprisionada em sua cultura, passando pelas operações navais e terrestres dos norte-americanos contra as possessões coloniais espanholas (Guerra Hispano-americana) no Caribe e Filipinas, na avassaladora derrota imposta por Israel às forças árabes lideradas pelo Egito e pela Síria (Guerra do Yom Kippur, em 1973) ou mesmo a breve e desastrosa aventura argentina no Atlântico Sul, resolvida pela Armada Britânica em poucas jornadas (Guerra das Malvinas, 1982).
É inegável que tais exemplos, a despeito da complexidade inerente a cada conflito (causas politicas, situação operacional de cada lado beligerante, motivação estratégica, etc), reforçaram o peso da tecnologia como componente indispensável a ser usado na prática da guerra em si. Até mesmo se avançássemos o sinal e nos aventurássemos a citar a hecatombe bélica da Segunda Guerra Mundial, grosso modo, também poderíamos concluir ter sido decidida por fatores tecnológicos relevantes.
Ali também, e sobremaneira, poderíamos colher exemplos estruturalmente táticos que reforçam esta questão de modo mais amplo: o valor do uso eficiente da inteligência militar (ficando aqui apenas nos momentos capitais, quer seja no planejamento e execução da invasão da Europa pela Normandia, quer seja na genial decodificação do código alemão do “enigma”) e o preço que se pagou quando se negligenciou a ela (citando a aposta alemã na abertura de duas frentes, ocidental e oriental, num crasso erro analítico conjectural, e a opção americana em desconsiderar os alertas de iminente ataque japonês no pacífico, numa demonstração excepcional de negligência preventiva).
Os conflitos exemplificados anteriormente nos levam a duas constatações: de um lado a primazia da tecnologia, de outro a dúvida sobre o quanto de aparato de inteligência militar foi empregado e qual o peso disso no seu desenrolar. Não iremos avançar ao campo da geopolítica, mas podemos questionar se o uso da inteligência militar tanto na fase preparatória quanto durante a consecução dos conflitos não foi, por diversas vezes, fatalmente negligenciado.
Em 2017, os gastos militares globais atingiram seu maior número desde o fim da Guerra Fria, em 1989. Mensurar o quanto desse montante efetivamente foi empregado em ações de inteligência militar não é nosso propósito, mas cabe deixar essa dúvida como estímulo ao leitor.
Os Exércitos da atualidade certamente têm (e assim será por longo tempo) como modelo inspirador as tendências de emprego de tecnologia militar do exército norte-americano, logicamente que adaptando seus respectivos orçamentos a suas necessidades táticas e situação geopolítica. Essa hegemonia referencial norte-americana se explica facilmente pelo seu histórico de protagonismo, quer seja nas duas guerras mundiais do século XX, quer seja pela vitória após quase meio século de guerra fria com a Rússia.
Mas, mesmo numa nação em que os gastos militares acabam sendo vitais para sua própria sobrevivência enquanto potência hegemônica, como no caso dos Estados Unidos, existe proporcionalidade tática entre investimento em tecnologia e uso de inteligência militar? Seria possível estabelecer um lugar mensurável na parcela de investimento dos Exércitos modernos (esses mesmos que miram no modelo estadunidense) em inteligência militar frente ao custo tecnológico? Ficou disposta aqui a constatação de que a qualidade do material militar de que um exército dispõe não lhe garante a capacidade de melhor usá-lo, nem a certeza do melhor momento e das formas mais adequadas de emprego (isso sem falar da melhor das possibilidades, que é aquela em que se consegue antecipar ações que evitem até mesmo a necessidade de seu uso, poupando vidas e recursos essenciais).
Da História Militar brevemente visitada aqui, podemos colher insights que nos estimulem a valorizar o aperfeiçoamento tecnológico desde que lastreado por um proporcional e crescente esforço de criação de uma mentalidade de inteligência militar, permeada por medidas de segurança orgânica e disciplina institucional militar no que se refere ao uso constante da contrainteligência.
De forma geral, inteligência militar ainda se constitui num assunto mais privado, relegado aos bastidores governamentais e, muitas vezes, a planos menos prioritários. Tomado muitas vezes das referências saídas das páginas da história de países não muito bem servidos de instituições bem consolidadas, e estigmatizados como clandestino e oculto, o trabalho de inteligência sofre constantemente de certa desconfiança, tanto da parte dos contribuintes quanto dos governos para os quais lhe é servido.
Certo é que, amado ou odiado, o serviço de inteligência que também é uma peça militar fundamental, deve ser entendido como necessário, assim como a diplomacia e as demais formas de relações internacionais. E, a despeito da necessidade de atualização tecnológica de suas Forças Armadas, também deve ser encarado como parte fundamental de seu constante e permanente esforço de garantia da soberania nacional e sua integridade territorial.