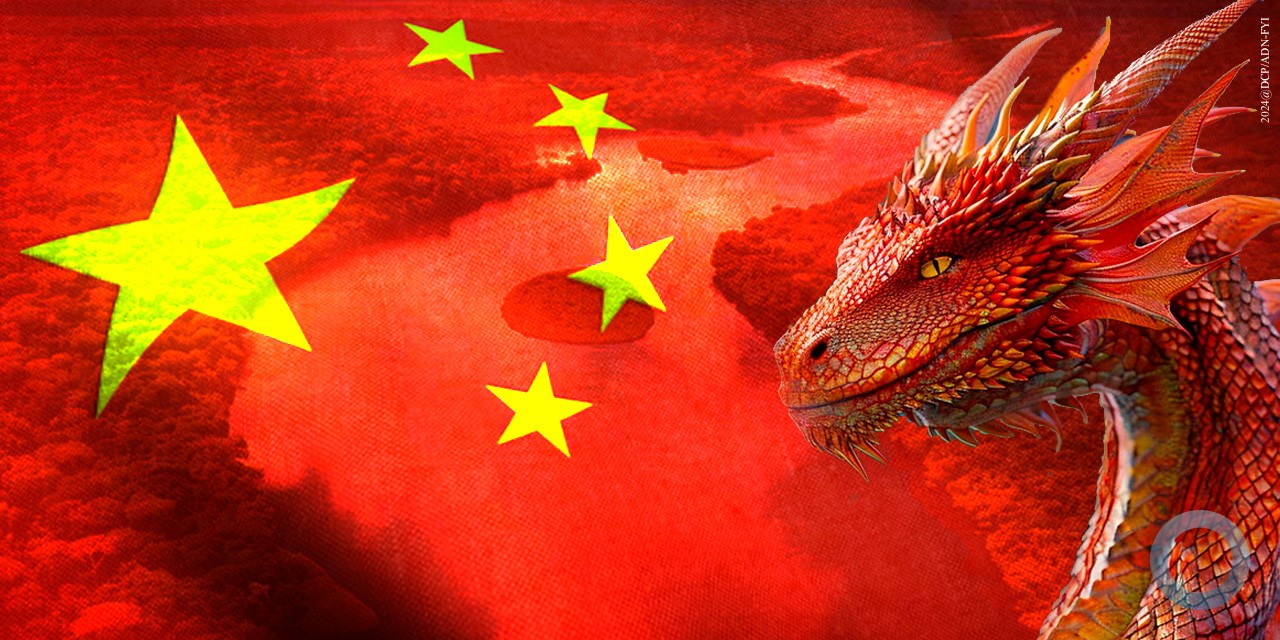A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) aprovou nesta quinta-feira (3) a criação de uma comissão externa com o objetivo de visitar a Venezuela, país que experimenta grave crise política. A sugestão segue para análise do Plenário do Senado e, uma vez confirmada, a comissão será presidida pelo senador Fernando Collor (PTC-AL), também presidente da CRE.
A iniciativa partiu do vice-presidente da comissão, senador Jorge Viana (PT-AC). Collor informou que, para a comissão ser efetivada, necessitará de contatos prévios com o Itamaraty, com o governo de Nicolás Maduro e com a oposição da nação vizinha.
— É evidente que não temos o intuito de resolver a crise política daquele país. Mas o Brasil não pode se omitir. Temos mais de 2000 km de fronteira, enquanto nações de outros continentes procuram atuar neste processo —afirmou Collor, em referência ao agravamento da polarização no país vizinho, a partir da convocação de uma nova Assembleia Constituinte por parte do governo Maduro.
Collor disse que a comissão deverá abster-se de qualquer julgamento prévio político ou ideológico, assim como não objetiva "de nenhuma maneira" interferir em questões internas da Venezuela. Estará focada, segundo o senador, num esforço de diplomacia parlamentar, buscando colaborar no restabelecimento de um mínimo de diálogo institucional entre as forças do governo e da oposição naquele país. Outro ponto que interessa diretamente ao Brasil, observou, é o aumento da migração de venezuelanos, especialmente pela fronteira com Roraima.
Perto de guerra civil

Para Jorge Viana, o Brasil não pode assistir "de braços cruzados" ao agravamento da crise política e ao crescimento da polarização na Venezuela. Lembrou que desde a convocação de uma nova série de manifestações de rua por parte da oposição, há cerca de quatro meses, mais de 100 pessoas foram mortas durante protestos. Somente no último domingo (30), dia de votação para a nova Constituinte, 16 pessoas também morreram em locais próximos às zonas eleitorais.
— Acho que a situação se agravou muito nos últimos dias, e talvez o país esteja próximo a uma guerra civil. Não há mais nenhum diálogo, tolerância ou entendimento entre as forças políticas — lamentou Viana, lembrando que o aumento da tensão na Venezuela não interessa à América do Sul.
O senador também elogiou os contatos prévios que deverão ser mantidos com o governo e a oposição antes da visita, "para saber se desejam de alguma maneira a nossa atuação". Acredita ainda que a iniciativa está em consonância com os posicionamentos históricos do Itamaraty.
Collor concordou com Viana, acrescentando que, em termos de geopolítica internacional, o Brasil estará se comportando de forma subalterna caso se omita.
A fronteira da miséria¹


Dois países. Duas cidades separadas por uma linha imaginária, mas unidas pela decadência política e econômica. Na fronteira entre Brasil e Venezuela, empobrecidas e consumidas pelas crises dos respectivos governos, Pacaraima, em Roraima, e Santa Elena de Uairén, em Bolívar, vivem tempos de penúria. Sem infraestrutura, com renda baixíssima, as duas cidades são o retrato de uma situação precária, que só piorou com o agravamento do cenário no país de Nicolás Maduro.
Com a Venezuela às portas de uma guerra civil, cidadãos do país vizinho fizeram de Pacaraima, cidade de 12 mil habitantes, corredor cada vez mais utilizado por pessoas em busca de abrigo. Há ali contrabando e tráfico. Vende-se de tudo: ouro, diamantes, comida, alimentos, gasolina, filhotes de cachorro e até dinheiro em espécie.
Em Pacaraima, não há rua sem buracos do tamanho de crateras no asfalto e são poucas as calçadas. Saneamento básico praticamente não existe. O único hospital não consegue atender nem a população local nem a flutuante. Casos de malária, leishmaniose, tuberculose e doenças sexualmente transmissíveis triplicaram nos últimos meses. Os três socorros diários realizados, em média, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), agora aumentaram para dez.
O eletricista venezuelano Victor Ramón é um dos novos moradores da cidade. Aos 25 anos, ele deixou casa, móveis e o trabalho que tinha na Venezuela e faz o que pode para sobreviver em Pacaraima. Chegou ao Brasil em dezembro. Trouxe a mulher, Cármen, de 22 anos, grávida do primeiro filho. O bebê, Miguel, nasceu em abril. "Lá não há mais nada. Não existe comida, remédios, médico nem hospital. Por isso decidimos vir. Aqui minha mulher foi atendida pelo médico", diz.
Ramón agora lava louça e faz faxina em uma lanchonete na mesma rua onde venezuelanos compram mantimentos. A mulher, conta ele, fez o pré-natal em um dos postos de saúde de Pacaraima, teve o bebê em segurança e a criança também recebe acompanhamento médico. "Miguel é brasileiro e não vamos voltar ao nosso país para passar fome", afirma ele.
Apesar da sensação de acolhida de Ramón, o colapso da Venezuela foi um desastre a mais na história dessa ponta extrema do Norte do Brasil: teve o poder de destruir o frágil equilíbrio que mantinha a aparência de um mínimo de ordem. "Não temos condições de receber esse pessoal. Não há emprego, remédios, leitos hospitalares, vagas para consultas no posto de saúde, nas escolas ou creches", afirma Juliano Torquato (PRB), prefeito de Pacaraima que está no cargo há pouco menos de um ano.
A diáspora venezuelana dispersa famílias em várias regiões do mundo. No último ano, havia 27 mil solicitantes de refúgio de venezuelanos para vários países. Em 2017, até agora, mais de 52 mil pessoas já solicitaram refúgio. Os principais destinos das solicitações, neste ano, têm sido os Estados Unidos, o Brasil, a Argentina e a Espanha.
Os números, segundo o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (Acnur), representam apenas uma fração do total de venezuelanos que podem estar em necessidade de proteção internacional, já que muitos não requisitaram o pedido de refúgio, embora indiquem que foram forçados a deixar seu país em virtude da violência e da insegurança e também da incapacidade local de atender necessidades diárias de subsistência. Considerando a evolução da situação na Venezuela, estima-se que as pessoas continuem deixando o país.
No Brasil, esses homens, mulheres e crianças entram principalmente por Roraima. De acordo com os dados divulgados pela Polícia Federal, até o início do mês passado houve 6.438 solicitações – apenas neste ano. Esse número, que se mantinha em uma média de 500 a 600 nos primeiros meses do ano, cresceu em abril (1.661) e em maio (2.196). Em junho teve uma queda (1.119). As autoridades estimam que a estatística volte a aumentar estimulada pelos conflitos das últimas semanas.
Ao solicitarem refúgio em território brasileiro, os venezuelanos ganham tempo, embora saibam que poucos terão reconhecido o direito a essa condição. A solicitação lhes dá direito a permanecer aqui até que o processo seja examinado no Comitê Nacional de Refugiados (Conare), órgão do Ministério da Justiça. E, assim, conseguem trabalhar ou frequentar a escola e fazem os trâmites para requerer um visto de permanência temporária que, no futuro, pode ser transformado em permanente.
"Conseguimos fazer ações isoladas, mas é impossível criar melhores condições para a população que vem de fora. Não conseguimos nem fazer isso para a nossa população", diz Rosa Helena Barros, gestora de Assistência Social, encarregada de administrar a área social de Pacaraima, um município que sequer tem seu território reconhecido, pois fica na Terra Índigena São Marcos, homologada pelo governo federal em 1991. "Vivemos de favor em uma região que é dos índios", diz o prefeito Torquato. "Em oito meses, ocorreram oito assassinatos. Antigamente, aconteciam furtos. Hoje são assaltos à mão armada", acrescenta Rosa Helena.
Nos primeiros meses do ano, autoridades brasileiras afirmavam que mais de 300 cidadãos do país vizinho cruzavam diariamente a fronteira e se estabeleciam em Pacaraima ou Boa Vista, a capital de Roraima, e previam uma "crise humanitária". A realidade mostrou que não era bem assim. Nem o número oficial era tão expressivo nem essas pessoas ficavam em Roraima. "O que acontece é a chamada migração mista. Há pessoas que cruzam a fronteira e voltam. Outros pretendem ficar por razões econômicas ou mesmo políticas", explica um membro do Acnur.
A Venezuela, que passou as duas últimas décadas entre a glória e a ruína, é uma sociedade convulsionada e dividida. Em uma ponta estão os que seguem com devoção o culto a Hugo Chávez (1954-2013) e apoiam seu sucessor, Maduro. Em outra, a oposição, que reivindica eleições e o afastamento dos bolivarianos do poder. No meio, os cidadãos que tentam sobreviver, deixando para trás a falta de comida, a violência e o medo, decidindo sair por vontade própria ou, como muitos afirmam, para escapar de perseguições políticas.
Com uma inflação na casa dos 700%, segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI) – pode ser muito superior aos 2.000%, de acordo com estimativas não oficiais -, o bolívar, moeda venezuelana, virou um papel sem valor. Desde a morte de Chávez, em 2013, o índice de preços ao consumidor avançou 4.257% e o PIB encolheu 17%. A parcela de pobres passou de 27,2% para 81,8%. A queda no preço do petróleo no mercado internacional – que representa 90% das exportações venezuelanas – destruiu a economia.
Enquanto os venezuelanos esperam para começar uma nova vida no Brasil, a situação no Estado de Roraima se deteriora. O conflito, que envolve políticos locais, caciques indígenas (os tuxauas), organizações não governamentais, os moradores e imigrantes, se acirra. Em meio a tantas agruras, se sobressai o infortúnio dos warao – em tradução livre quer dizer povo das águas ou povo das canoas -, uma das mais antigas etnias venezuelanas.
Eles são originários do Delta do Orinoco, rio que começa na Colômbia, cruza a fronteira e entra na Venezuela, desembocando 2.500 km depois da foz no oceano Atlântico. Ao longo desse percurso, o rio recebe quase 2 mil afluentes e, perto de chegar ao mar, forma um magnífico Delta.
Os warao sempre viveram da pesca e da caça em palafitas de palha construídas nesse Delta. Com o tempo, foram sendo aculturados e, no governo Chávez, beneficiados pelas políticas protecionistas que financiavam projetos de saúde, de educação e alimentação para os indígenas, cuja população está estimada em 500 mil na Venezuela.
Quando o dinheiro bolivariano se evaporou, muitos warao viraram mendigos no próprio país e agora repetem a mesma vida de miséria em Pacaraima e Boa Vista. Estima-se que cem famílias estejam acampadas em meio a sujeira e fétidos esgotos, onde crianças nuas – porque não têm fraldas – brincam. Adultos e crianças vasculham pilhas de lixo para comer ou improvisam fogueiras para cozinhar algum alimento que lhes foi doado.
Mulheres, especialmente as idosas e as grávidas, pedem dinheiro, que são entregues aos caciques. Não há banheiros nesses acampamentos e nem tetos de plástico azul para que todos se protejam das chuvas que caem incessantemente nesta época. Mas sobram promessas das autoridades brasileiras.
Desde os primeiros meses deste ano, representantes da Casa Civil, do Ministério da Justiça, da Polícia Federal, do Exército Brasileiro, do Acnur e dos governos estadual e municipal promovem reuniões em Boa Vista. Concluíram, em abril, que seriam montadas tendas para tirar os warao das ruas.
As barracas, que chegaram a ser enviadas, seriam montadas pelo Exército, mas a ordem ainda não foi dada e eles continuam em um ginásio poliesportivo da capital, onde funciona o Centro de Referência ao Imigrante. "O ministro disse que vamos receber casa, ventilador, fogão. Vamos ter médico e escola para as crianças", afirma Jorge Zapata, de 44 anos, que se anuncia como porta-voz e coordenador dos warao que moram no ginásio.
O ministro da Justiça, Torquato Jardim, visitou o acampamento dos warao no mês passado e disse que o governo vai montar a infraestrutura para que eles permaneçam no local.
Entre todos os venezuelanos que chegam à região, os índios warao, segundo avaliação do Acnur, são os que têm menos chances de reestruturar suas vidas sem ajuda do Estado. "Eles vivem em condições que desrespeitam os direitos humanos. Realmente precisam de proteção e de ajuda para saírem dessa situação", diz Luiz Fernando Godinho, porta-voz do Acnur no Brasil.
Proteger os warao em um país onde as comunidades indígenas se ressentem com a falta de recursos e de atenção tornou-se motivo de preocupação para os governantes. "Os warao não têm nada. Mas nossos índios também não. Os tuxauas das comunidades na região estão desgostosos com isso. Já estiveram aqui na prefeitura para reclamar", diz Juliano Torquato.
Em Pacaraima, 400 famílias vivem do Bolsa Família. As comunidades são importantes cabos eleitorais. "Entrar em confronto com esse pessoal significa perder votos", afirma Roseana Nascimento, secretária de Planejamento e Administração.
Podem ser perdidos mais do que votos. Mas Pacaraima faz uma conta de ganhos e prejuízos em todos os aspectos diante da crise venezuelana. Por isso, ninguém reclama ostensivamente da falta de vigilância na fronteira que permite esse deslocamento de pessoas.
Tampouco se tomam medidas contra os atalhos abertos na mata, estreitas e precárias estradas de terra contornando a BR-174 no posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, por onde táxis e veículos particulares levam e trazem cargas e gente sem dar satisfação a ninguém.
A miséria dos warao incomoda a população, mas quando eles não estão pedindo na porta das lojas, comerciantes pouco se queixam dos demais venezuelanos que chegam. Eles carregam sacas, bolsas e mochilas abarrotadas de notas que tentam trocar por reais e dólares.
Como o câmbio é controlado na Venezuela, esses mercadores de dinheiro propõem taxas de câmbio aleatórias, que eles mesmos estabelecem de acordo com a hora do dia e a cara do freguês. "É sempre melhor trocar o dinheiro pela manhã. O dia vai passando e o real perde valor", diz o comerciante Oscar Martinez, um venezuelano de 42 anos que vivia de artesanato antes de abrir a loja.
Martinez desconhece a razão das oscilações desse mercado. O que ele sabe é que pela manhã os produtos que vende em Pacaraima custam menos bolívares que se forem comprados à tarde. Portanto, é nas primeiras horas do dia que ele abre as portas de sua loja à espera dos venezuelanos que desembarcam dos ônibus e dos carros e saem correndo com as sacolas de bolívares atrás dos melhores preços.
Todas as lojas têm máquinas de contar dinheiro. "As notas de 100 estão sendo substituídas pelas de 1 mil, 10 mil… E assim vamos", lamenta Lourdes Yánz, geóloga de 30 anos. Ela mora em Santa Elena, mas trabalha em Pacaraima.
A loja de Martinez, assim como as da vizinhança, é simples e pequena. Os fardos com produtos da cesta básica – arroz, macarrão, açúcar, óleo de cozinha e café – estão bem empilhados ao lado dos itens de higiene pessoal e de limpeza. Angélica Tovar, de 27 anos, e Gabriela Cermeño, 21, já conhecem as regras do mercado.
Duas vezes por semana encaram uma viagem de dez horas de ônibus, ida e volta no mesmo dia, da cidade de Bolívar (a aproximadamente 600 km de Pacaraima) para as compras. Levam produtos básicos, vendem e ganham o suficiente para viver. "É o jeito. Nosso dinheiro é fictício", afirma Gabriela, que exibe as sacolas cheias de notas.
Na Venezuela, a poucos quilômetros da loja, os comerciantes usam o valor do dólar paralelo para definir os preços de seus produtos, ignorando as tabelas do governo: 1 kg de arroz custa cerca de 11 mil bolívares (aproximadamente US$ 1), 1 litro de óleo, mais ou menos, 20 mil bolívares, e um tubo de pasta de dentes, cerca de 1,5 mil bolívares.
Apenas para comprar esses três produtos, eles gastam um quarto do salário mínimo que foi reajustado em 50% no começo de julho. Agora, ficou em 97.531 bolívares – cerca de US$ 37 na taxa oficial mais alta e, em média, US$ 12 pela cotação do mercado paralelo.
No Brasil, os mesmos produtos custam aproximadamente a metade, de acordo com a vontade do comerciante e a disposição de pechinchar do freguês. Os mercadores venezuelanos trabalham com uma margem de lucro mínima de 100%.
Em Santa Elena, a capital da Gran Sabana que fica dentro do Parque Nacional Canaima e a 30 km de Pacaraima, uma das maiores atrações da Venezuela, os efeitos da crise não são tão sentidos. Cerca de 1.200 km separam a capital venezuelana do município. A distância esmorece a força dos violentos protestos contra o presidente Maduro que acontecem em centros maiores.
Os moradores se queixam do alto custo de vida, da inflação, mas a cidade não perdeu totalmente os dólares que chegam com os turistas, a proximidade com a fronteira garante o abastecimento de produtos básicos e o contrabando continua sendo o motor que move essa economia.
Entre todos os produtos vendidos ilegalmente, a gasolina é a campeã em volume e de lucro. Veículos com placa venezuelana pagam o preço subsidiado de US$ 0,01% por litro (um dos mais baixos do mundo). Em Pacaraima, esse mesmo litro custa, em média, R$ 1,50 e, em Boa Vista, não sairá por menos de R$ 3,00.
Enquanto o negócio da gasolina acontece nas estradas ou em postos clandestinos, em Santa Elena os ilícitos são vistos em qualquer horário nas principais ruas. Quer comprar ouro ou diamantes extraídos pelo garimpo nas minas que estão ao redor da cidade? Tem dólares para pagar? "Eu entrego em Boa Vista se for uma boa quantidade", garante Frank, que diz ser conhecido como "o equatoriano". Ele acabou de sair de um dos pequenos comércios ali estabelecidos que anunciam vender produtos diversos, mas compram e vendem pedras preciosas e ouro do contrabando.
Dê mais uma volta pelo centro e vai ouvir: "Quer fazer um programa? Se pagar uma comida ou tiver reais, eu arrumo para você". Quer comprar um filhotinho de cachorro assustado e magricelo? "Leve este que estou segurando. É de raça. Tem pedigree." No centro da praça, sob o olhar altivo da estátua de Simon Bolívar, o herói libertador dos países da América espanhola que inspirou a "revolução bolivariana" de Chávez, não falta nada. Vende-se e se compra de tudo.
¹Por Monica Gugliano / Valor – A repórter teve suas despesas parcialmente pagas pela 1ª Brigada de Infantaria de Selva.