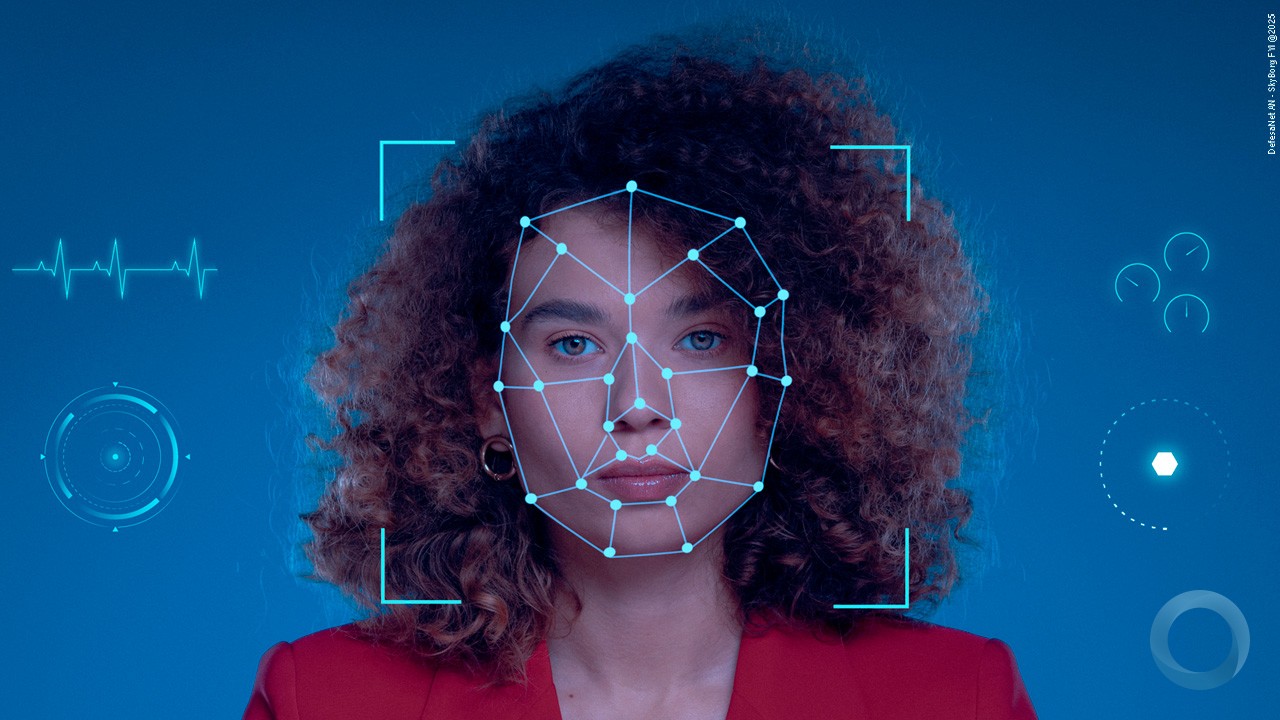Por Phil Zabriskie – Texto de Defense One
Tadução, edição e adaptação por – Nicholle Murmel
Na semana passada, o general Martin Dampsey, chefe do Estado Maior Conjunto das Forças Armadas dos Estados Unidos, declarou a um comitê do Congresso que seu gabinete ainda estava considerando se os EUA deveriam ou não enviar tropas ao Iraque para combater o Estado Islâmico (ISIL ou ISIS). Alguns parlamentares e militares creem que já já passou da hora, e que somente soldados americanos podem neutralizar a ameaça que o ISIL representa para a Síria, o Iraque e além.
Com a saída de Chuck Hagel do posto de secretário de Defesa no último dia 24 – sem mencionar o passo lento da retirada das tropas do Afeganistão – um deslocamento na política de intervenção militar pode mesmo ser necessário. Mas o que todos precisam entender é que se coturnos forem colocados em terra e o combate começar, soldados provavelmente vão morrer, e também matar.
Isso pode parecer óbvio. Claro que soldados em combate acabam matando. Ainda assim, ao longo do ano passado, enquanto vinha escrevendo sobre matar em combate, percebi que esse aspecto, por mais óbvio que pareça, permanece um dos menos discutidos e mais ignorados, apesar das profundas implicações para todos os envolvidos.
Em certa medida, isso não surpreende. Matar é uma noção complicada de tratar tanto para civis quanto para líderes porque expõe o que a guerra realmente envolve – e muitos preferem não saber – e porque o assunto torna essas guerras muito mais perturbadoras, ao menos psicologicamente, do que acreditamos que elas deveriam ser. Além disso, muitos dos prórpios veteranos não sabem quando ou como falar a respeito, especialmente com quem nunca esteve em um campo de batalha. Tudo o que esses homens sabem é que abominam o vuyeurismo do “ei, você já matou alguém?” que encontram frequentemente.
Tudo isso significa que os soldados precisam processar sozinhos as mortes que causaram, geralmente isolados das outras pessoas. O tenente-coronel Pete Kilner, que ministra o seminário “The Morality of Kiling” na academia militar de West Point, me disse que matar é a “maior decisão moral” que se tomar, e o “maior tabu moral” que se pode quebrar. Sim, é parte do trabalho dos soldados mas – como eu ouvi de vários veteranos e profissionais voltados à saúde mental de militares – as Forças Armadas preparam seus recrutas para aniquilar inimigos muito melhor do que os preparam para lidar com a confusão, raiva, culpa e dúvida que vêm depois. De acordo com Bill Nash, um psiquiatra a serviço da US Navy agora aposentado, em algumas sociedades antigas, civis vinham receber os soldados recém-chegados das batalhas e lavar suas mãos em um ritual, limpando-os do sangue que a comunidade exigiu que eles derramassem, porque todos eram responsáveis também. Nos Estados Unidos, lamenta Nash, a mensagem aos soldados atormentados vem sendo “você está sozinho nessa”.
Um trauma que resiste ao tempo
Nem todos são tão afetados pelo fato de causarem a morte do outro. Alguns sequer pensam a respeito (o que pode em si ser problemático). Mas as experiências de todas as pessoas com quem conversei – gente que sabia o que era matar em tiroteios ou combate corpo-a-corpo, matar varias pessoas ao reagir a uma emboscada, matar uma criança que pegou a arma de um insrgente morto e a apontou para um grupo de Fuzileiros, ou mesmo acertar o motorista de um carro-bomba, que em seguida atingiu um Humvee e explodiu todos lá dentro – todos esses relatos mostram que tirar uma vida tem consequências não só no momento, mas anos depois.
Estudos chefiados pela doutroa Shira Maguen, do San Francisco Veterans Affairs Center, mostraram que homens que mataram em combate são mais promensos a desenvolver Transtorno de Stress Pós-Traumático (TSPT) e outras doenças psicológicas. E uma psiquiatra da mesma instituição me contou que havia conversado com vários veteranos para os quais lidar com as mortes havia se tornado mais difícil ao longo do tempo, especialmente quando chegavam a uma idade em que eram capazes de contestar sua própria moralidade. Se uma guerra falha em alcançar os objetivos do país – como no caso do Vietnã –as razões das mortes se tornam ainda mais difíceis de serem aceitas. De acordo com a psiquiatra, alguns veteranos recentes das campanhas do Iraque e do Afeganistão já se perguntam: “isso tudo serviu pra quê?”
A ideia aqui não é colocar os soldados que matam em combate como vítimas. Eles devem sustentar o peso do que fazem. Mas não deveriam ser forçados a carregar esse peso sozinhos. Seus comandantes, em nível do Companhia até o chefe de Estado Maior, são parte de cada morte. Assim como os civis que orquestram essas guerras. E todos nós também temos nossa responsabilidade. As mortes que uma nação causa através de seus soldados são parte de sua estrutura e sua identidade. Quanto menos se examina essas questões, menos uma nação conhece sobre si mesma, seus impulsos e o impacto do que seus filhos e filhas são treinados e enviados para fazer.
Uma conversa mais honesta sobre o que é a guerra e o que ela faz já é um bom ponto de partida. Aqueles que agora pedem tropas em terra no Iraque, na Síria ou em qualquer outro lugar deviam ser os primeiros a participar desse diálogo. Eles devem entender e explicar exatamente o que significará se esses contingentes forem enviados, e devem pressionar as autoridades militares para que deem aos soldados não apenas as ferramentas para que matem quando for necessário, mas para que consigam viver com o peso dessas mortes ao longo do tempo.
Também é preciso disponibilizar mais canais de aconselhamento, como parte de uma reforma mais ampla da Associação de Veteranos. Além de remover o estigma que ainda existe em procurar ajuda para lidar com as feridas psicológicas da guerra. E ninguém devia perguntar a um veteranso se ele ou ela matou alguém, a menos que esteja realmente disposto a ouvir a resposta – e preparado para ouvir a história.