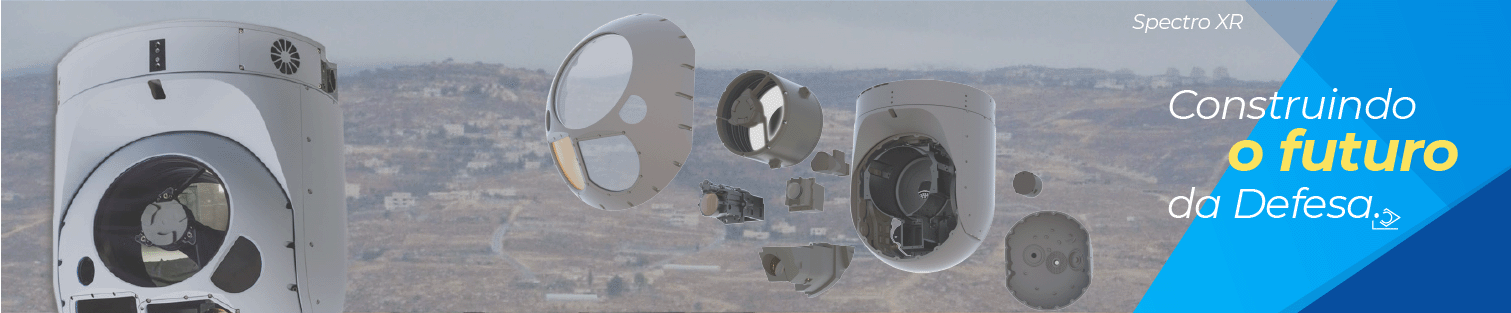Eram 19h19 daquela terça-feira de agosto de 2017. Donald Trump subira havia pouco ao palco do Centro de Convenções de Phoenix, no Arizona, para mais um inflamado comício, mais como candidato do que como o presidente dos Estados Unidos que é. Naquele instante, ele apontou os indicadores de suas pequenas mãos para os fundos, onde estavam acomodados as câmeras e os repórteres. “A mídia tão desonesta….” foi o que bastou. Por precisos 59 segundos, os 8 mil presentes vaiaram. Eram homens e mulheres, muitos idosos, numa massa branca – um negro foi meticulosamente instalado atrás de Trump na moldura para as TVs, com uma camiseta estampada de “Trump & republicanos não são racistas”. As vaias eram pontuadas com urros de “Chupa CNN” e “F…-se a mídia”.
O público fazia gestos obscenos para os jornalistas. Alguns tentaram invadir o “cercadinho” da imprensa – devidamente protegido por agentes do Serviço Secreto, que impediram um avanço maior. “Se o presidente Trump tivesse dado ordem para nos atacar, teríamos sido massacrados”, disse a ÉPOCA um jornalista credenciado na Casa Branca que cobria a viagem. A virulência física era a materialização de um bombardeio virtual diário de Trump e seus tuítes contra a imprensa desde que ele assumiu a Presidência, em janeiro de 2017. O ódio à verdade é, na era Trump, plataforma de governo.
Trump hostilizou e desafiou a imprensa por 25 ininterruptos minutos naquela noite. Dias antes, militantes de ultradireita tomaram as ruas de Charlottesville, na Virgínia, empunhando tochas e gritando contra negros, imigrantes, homossexuais e judeus, numa manifestação que em muito lembrou os nazistas e a Ku Klux Klan. Do lobby de um de seus hotéis em Nova York, Trump condenou a violência dos ultradireitistas.
No dia seguinte, pressionado por seus apoiadores, recuou. Culpou os “vários lados” envolvidos e disse que os manifestantes de ultradireita, boa parte deles seus eleitores, não poderiam ser tachados como “neonazistas” ou “supremacistas brancos”. Responsabilizou a “ultraesquerda”, cuja existência organizada nos EUA é questionável, pelo conflito. E a imprensa, pela divisão no país. Em Phoenix, Trump ignorou esse recuo. Colocou-se como vítima incompreendida da mídia. “Uns desonestos desgraçados” distorceram sua mensagem. “Eu acredito, de verdade, que eles [jornalistas] não gostam do nosso país”, escolheu cirurgicamente as palavras. Sempre que pôde, o presidente encaixou a expressão que ele transformou em slogan de sua gestão e jura, falsamente, ser de sua autoria: Fake news.
Antes mesmo de se eleger presidente, Donald Trump elegeu para si e seus seguidores um inimigo. A imprensa e, fatalmente, a verdade. Menos de um mês depois de assumir a Casa Branca, Trump aninhou-se em sua ágora digital para trombetear, em um tuíte: “A mídia FAKE NEWS (os falidos @nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) não é minha inimiga, é inimiga do povo americano!”. Nomear um oponente forte e contra quem as pessoas possam facilmente se voltar é uma tática de exercício de poder tão antiga e universal quanto eficaz.
A Revolução Francesa e os comunistas russos designaram “inimigos do povo” para justificar o uso da guilhotina, dos gulagui. Destacar o jornalismo profissional como esse inimigo tampouco é um recurso original – e é uma das maneiras mais eficientes de retroalimentar a polarização de uma sociedade. Nos Estados Unidos, Richard Nixon, que renunciou em 1974 emparedado pelo escândalo de Watergate, exposto pelo jornal Washington Post, foi feroz contra a mídia já no início dos anos 1960. Em 2006, Evo Morales, presidente da Bolívia, classificou como seus “inimigos número 1” a “maioria da mídia” – argumento recorrente de Hugo Chávez, da Venezuela. Daniel Ortega, da Nicarágua, chama repórteres de “filhos de Goebbels”. Trump soa, a essa altura, como uma paródia de populistas latino-americanos.