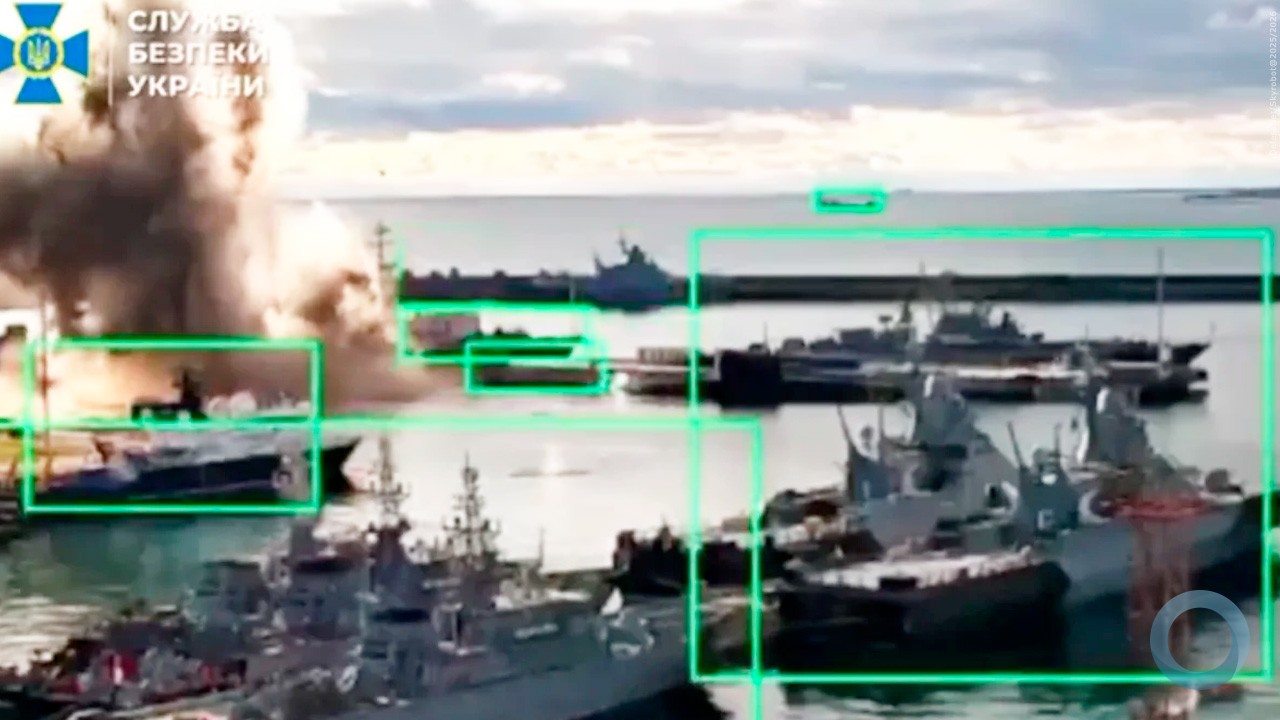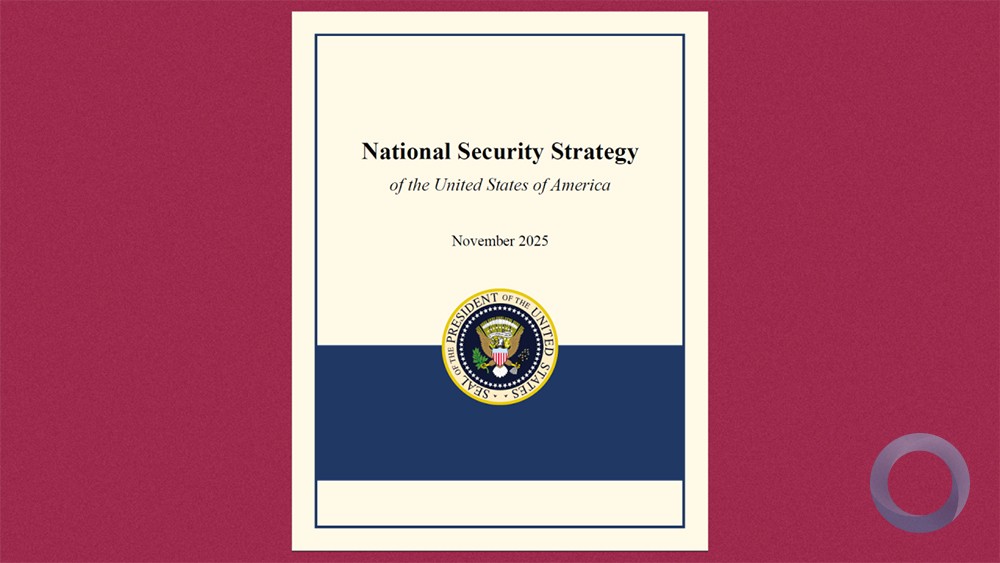Nota DefesaNet: Recomendamos a leitura do artigo "A iminente (?) renovação militar japonesa" – Os desdobramentos da nova política militar do Japão poderá levar as empresas japonesas disputarem mercados com equipamentos brasileiros como o KC-390 da EMBRAER (Link)
Joseph S. Nye
*FOI SECRETÁRIO ASSISTENTE DE DEFESA AMERICANO E CHEFE DO CONSELHO NACIONAL DE INTELIGÊNCIA DOS EUA. DÁ AULAS NA UNIVERSIDADE HARVARD
Desde o fim das 2ª Guerra, o Japão vem sendo governado por uma "Constituição de paz" redigida por americanos cujo Artigo 9 proíbe a guerra e limita as forças japonesas à autodefesa. Agora, o primeiro-ministro Shinzo Abe está tentando aprovar uma legislação permitindo que o Japão reinterprete a Constituição, para incluir a "autodefesa coletiva", pela qual o país aumentaria sua cooperação de segurança com outras nações, particularmente com seu aliado mais próximo, os Estados Unidos.
Alguns críticos veem isso como um afastamento radical de sete décadas de pacifismo. Mas os objetivos centrais de Abe – melhorar a capacidade do Japão de responder a ameaças que não sejam um ataque armado, permitir que o Japão participe mais efetivamente em atividades internacionais de manutenção da paz e redefinir medidas para autodefesa permitidas pelo Artigo 9 – são, de fato, relativamente modestos.
Os temores de que a medida conduziria a um envolvimento japonês em guerras americanas distantes são igualmente exagerados. Aliás, as regras foram cuidadosamente arquitetadas para impedir semelhantes aventuras, embora permitam que o Japão trabalhe de maneira mais estreita com os EUA em ameaças diretas à segurança japonesa.
Não é difícil perceber por que Abe está perseguindo direitos mais amplos à autodefesa. O Japão fica numa região perigosa, onde tensões profundamente arraigadas ameaçam explodir a qualquer momento.
Considerando que o Leste Asiático, diferentemente da Europa após 1945, não experimentou uma reconciliação plena entre rivais nem criou instituições regionais fortes, a região tem sido obrigada a depender do Tratado de Segurança EUA-Japão para sustentar a estabilidade regional.
Quando o governo do presidente americano, Barack Obama, anunciou seu "pivô" para a Ásia em 2011, reafirmou a Declaração Clinton-Hashimoto, de 1996, que citou o pacto de segurança EUA-Japão como a base da estabilidade –pré-requisito para um progresso econômico contínuo – na Ásia.
Essa declaração serviu ao objetivo maior de estabelecer uma relação triangular estável, embora um tanto desigual, entre EUA, Japão e China. Governos americanos posteriores mantiveram essa abordagem e pesquisas de opinião mostram que ela continua a ter ampla aceitação no Japão – não menos pela estreita cooperação na ajuda humanitária depois do terremoto e tsunami de 2011.
Mas o Japão continua extremamente vulnerável. A ameaça regional mais imediata é a Coreia do Norte, cuja ditadura imprevisível investiu seus magros recursos econômicos em tecnologia nuclear e de mísseis.
Uma preocupação de longo prazo é a ascensão da China – uma potência econômica e demográfica cuja capacidade militar em expansão lhe permitiu adotar uma posição cada vez mais assertiva em disputas territoriais, uma delas com o Japão no Mar do Leste da China. As ambições territoriais chinesas também estão alimentando tensões no Mar do Sul da China, onde estão rotas marítimas vitais para o comércio japonês.
Para complicar ainda mais as coisas, a evolução política da China não conseguiu acompanhar seu progresso econômico. Se o Partido Comunista chinês se sentir ameaçado por uma população frustrada com a participação política insuficiente e sofrendo repressão social, poderá descambar para um nacionalismo competitivo, subvertendo o delicado status quo regional.
Evidentemente, se a China se tornar agressiva, países asiáticos como Índia e Austrália – que já estão incomodados com a assertividade chinesa no Mar do Sul da China – se unirão ao Japão no esforço para contrabalançar o poder chinês. Mas, do jeito como estão as coisas, uma estratégia de contenção seria um erro. Afinal, a melhor maneira de provocar inimizade é tratar a China como inimiga.
Uma abordagem mais eficaz, capitaneada pelos EUA e pelo Japão, se concentraria em integração, com uma proteção contra incertezas. Dirigentes americanos e japoneses precisam moldar o ambiente regional de tal modo que a China se sinta incentivada a agir com responsabilidade, mantendo para isso uma forte capacidade de defesa.
Ao mesmo tempo, EUA e Japão precisam repensar a estrutura de sua aliança. Apesar de as esperadas revisões da estrutura de defesa do Japão serem um desenvolvimento positivo, muitos japoneses ainda se ressentem da falta de simetria nas obrigações do pacto. Outros se irritam com o ônus de bases americanas, particularmente em Okinawa.
Um objetivo de longo prazo deveria ser, portanto, os EUA transferirem gradualmente suas bases para o controle japonês, deixando forças americanas rotativas entre elas. Aliás, algumas bases – em especial a Base Aérea Misawa ao norte de Tóquio – já hastearam a bandeira do Japão, enquanto abrigam unidades americanas.
O processo deve ser cuidadoso, porém. À medida que a China investe em mísseis balísticos avançados, as bases fixas em Okinawa tornam-se cada vez mais vulneráveis. Para evitar a percepção de que os EUA resolveram devolver as bases ao Japão justamente quando seus benefícios militares estão diminuindo – e para garantir que a medida represente a renovação do compromisso dos EUA com a aliança – uma comissão conjunta teria de ser criada para gerenciar a transferência.
Para o Japão, tornar-se um parceiro em igualdade de condições na sua aliança com os EUA é fundamental para garantir seu status regional e global. Para tal, o modesto passo de Abe para a autodefesa coletiva é um passo na direção certa.